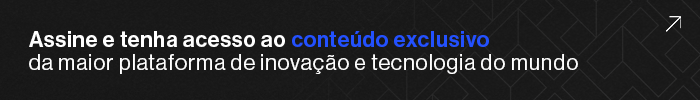Ao longo dos últimos anos, os reguladores do mercado financeiro no Brasil, em especial o Banco Central, adotaram uma postura deliberadamente favorável à inovação e ao aumento da competitividade. A flexibilização de requisitos de entrada para novos modelos de negócio permitiu o surgimento de uma multiplicação de players, redesenhando o cenário do sistema financeiro nacional.
Depois de aproximadamente uma década concentrado em derrubar barreiras para fomentar a competição, o regulador mudou a chave. A inovação deixa de ser um fim em si mesma para se subordinar, de forma mais rígida, à solvência, à integridade e à estabilidade. É esse movimento que caracteriza a atual mudança de regime regulatório promovida pelo Banco Central do Brasil.
O marco dessa virada é a Resolução Conjunta nº 14 editada pelo Conselho Monetário Nacional, que reformula toda a lógica de capital mínimo das instituições autorizadas a funcionar. A mensagem normativa é clara: o ciclo do “cresça rápido e ajuste o compliance depois” está sendo substituído por um ambiente em que o apetite regulatório ao risco é muito menor. A premissa que sustenta essa inflexão é bastante objetiva: a fronteira entre bancos e fintechs tornou-se semântica. Com a onipresença do Pix, a consolidação do open finance e a crescente sofisticação das contas de pagamento, as instituições não bancárias (IPs) deixaram de ocupar um papel periférico para assumir, ainda que gradualmente, riscos de natureza sistêmica.
Incidentes de segurança, fraudes massificadas e o uso de exchanges e IPs em esquemas de lavagem de dinheiro evidenciaram que a assimetria de exigências prudenciais vinha se traduzindo, na prática, em oportunidades de arbitragem regulatória. O risco sistêmico, antes concentrado em grandes balanços, foi sendo redistribuído para agentes com capital de startup.
A resposta do regulador incide diretamente sobre o coração do modelo de negócios das fintechs: a eficiência de capital. Ao esvaziar a associação rígida entre “tipo de licença” e exigência de capital, a nova metodologia passa a mirar a substância econômica das atividades exercidas. Crédito, custódia e serviços de pagamento passam a ter custos de capital próprios, independentemente do rótulo societário da instituição. Fecha-se, ou ao menos estreita-se significativamente, a janela para modelos que buscavam operar com perfil econômico de banco sob o CNPJ de IP. Mais do que isso: ao elevar o custo regulatório da alavancagem com recursos do público (depósitos, saldos de contas de pagamento) em relação ao capital próprio, o Banco Central explicita o preço de operar com dinheiro de terceiros sem ter capital suficiente em risco.
A mudança conceitualmente mais sofisticada está na Resolução BCB nº 517, que transforma tecnologia em fonte autônoma de risco de solvência. O regulador reconhece algo que o mercado muitas vezes tratou como pano de fundo: em um ecossistema integralmente digital, uma falha de API, um incidente de cibersegurança ou um vazamento relevante de dados deixam de ser “problemas de TI” para se tornarem gatilhos de risco de liquidez, reputação e crédito. Ao exigir capital adicional para riscos operacionais digitais, altera-se a economia dos modelos de infra as a service. A resiliência cibernética passa a ser componente quantificável da equação prudencial, não apenas um capítulo genérico de governança.
Essa nova postura antecipa uma tendência global irreversível: a “algoritmização” do risco sistêmico. Em um ecossistema financeiro cada vez mais interconectado por APIs, mediado por automação e, em breve, por agentes autônomos de Inteligência Artificial, a dinâmica da crise de liquidez muda drasticamente. A clássica ‘corrida bancária’, que outrora gerava filas físicas e permitia dias para reação, dá lugar a drenagens massivas de capital executadas em milissegundos por scripts de alta frequência. Ao tratar a infraestrutura tecnológica como pilar de solvência, o regulador brasileiro não está apenas criando burocracia, mas erguendo as únicas barreiras eficazes contra colapsos financeiros instantâneos em uma economia tokenizada.
Esse movimento de convergência prudencial não ocorre em um vácuo geográfico. Ele alinha o Brasil às fronteiras mais avançadas da regulação global, ecoando diretrizes recentes do Banco de Compensações Internacionais (BIS) sobre a inseparabilidade entre risco cibernético e estabilidade financeira. A nova postura reflete o mesmo espírito do Digital Operational Resilience Act (DORA), da União Europeia: o reconhecimento empírico de que, em mercados digitalizados, a integridade do código e a robustez da infraestrutura de dados são tão vitais para a solvência quanto a própria liquidez dos ativos.
No universo dos criptoativos, o salto é ainda mais nítido. As Resoluções BCB nº 519, 520 e 521 transportam para o setor a gramática da supervisão bancária: requisitos de autorização robustos, critérios prudenciais objetivos, segregação patrimonial, regras da Travel Rule e enquadramento das operações com ativos virtuais no mercado de câmbio. As exchanges deixam de ser tratadas como meros marketplaces de tecnologia e passam a ser reguladas como aquilo que, economicamente, já eram: infraestruturas financeiras críticas para uma parcela relevante dos fluxos de valor.
Esse movimento responde a preocupações concretas com opacidade, risco de contágio e uso indevido de criptoativos para fins de PLD/FT (Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo). Ao mesmo tempo, a “bancarização” das regras tende, como efeito colateral, a deslocar experimentos mais ousados para a informalidade ou para arranjos DeFi (sigla para “finanças descentralizadas”, em inglês) genuinamente descentralizados, fora do perímetro regulatório tradicional. Cria-se um paradoxo em que o ganho de segurança jurídica e proteção ao usuário pode vir acompanhado de uma redução da diversidade de modelos de inovação sob supervisão direta.
Do ponto de vista de economia política, observa-se um Banco Central mais pragmático. Iniciativas de fronteira tecnológica, como o Drex, parecem perder prioridade relativa diante da urgência de blindar o arranjo atual. O foco desloca-se para a segurança do Pix, o reforço dos controles de PLD/FT e a solidez das instituições de pagamento, incluindo aquelas que atuarão como prestadoras de serviços de ativos virtuais.
A mensagem implícita é firme, ainda que tecnicamente justificada: o papel do regulador não é o de laboratório de vanguarda, mas o de guardião de uma infraestrutura que não pode colapsar sob o peso da sua própria complexidade. Para o mercado, a consequência imediata é um choque de realidade nos valuations, nas estratégias de crescimento acelerado e, sobretudo, na forma de precificar risco regulatório.
Inovar deixa de ser apenas exercício de criatividade de produto ou de experiência de usuário e passa a ser, de maneira incontornável, um problema de engenharia de balanço. Compliance e gestão de risco tecnológico deixam de ser funções acessórias, acionadas a posteriori, para ocupar posição central no desenho de produto e na definição de roadmap. Nesse novo ambiente, modelos de negócio sustentados em spreads regulatórios ou em estruturas de capital excessivamente leves tornam-se, na prática, insustentáveis.
Apesar de tecnicamente justificável, esse adensamento prudencial não é neutro. Muitos empreendedores sérios, que construíram operações legítimas em torno de modelos de negócio inovadores e ainda em fase de tração, terão dificuldade real em acompanhar o novo patamar de exigência de capital. Em alguma medida, pagam a conta pelos maus atores e pelos modelos excessivamente alavancados que exploraram as assimetrias regulatórias ao limite. Isso não constitui um argumento contra a elevação dos padrões de solvência, mas evidencia um custo distributivo relevante da transição, que reforça a importância de calibrar proporcionalidade, prazos de adaptação e instrumentos de funding que permitam a sobrevivência de bons modelos em ambiente mais regulado.
O resultado provável é uma nova onda de consolidação. A imagem da “fintech de garagem”, que se conecta diretamente ao Pix, sustentada por capital enxuto, vai se tornando, senão impossível, ao menos altamente improvável do ponto de vista regulatório. O futuro aponta para arquiteturas baseadas em parceria: a inovação na ponta, seja em UX, seja em nichos específicos, tende a se ancorar em balanços robustos, capazes de absorver o custo prudencial que o novo regime explicita.
Essa transformação impõe uma nova tese de tecnologia para o setor. À medida que a camada de interface se comoditiza, o verdadeiro diferencial competitivo migra do front-end (UX e aquisição de clientes) para o back-end (segurança e engenharia de dados). Estamos entrando em uma fase de ‘Deep FinTech’, em que o valor de mercado (valuation) das companhias será determinado menos pela métrica de crescimento acelerado e mais pela sofisticação de sua infraestrutura crítica. Neste novo ciclo, a ‘barreira de entrada’ deixa de ser apenas o capital financeiro e passa a ser a capacidade proprietária de blindar operações digitais complexas contra falhas sistêmicas.
Ao elevar drasticamente o custo de compliance e capital, o regulador acaba blindando os incumbentes e as grandes fintechs já estabelecidas contra a disrupção vinda da base da pirâmide. Cria-se um cenário de “darwinismo regulatório”, em que a sobrevivência depende menos da genialidade da solução e mais da robustez do caixa.
Longe de significar um freio absoluto à inovação, o movimento do Banco Central pode ser lido como um processo de reprecificação dessa inovação. O Brasil encerra um ciclo de expansão mais desordenada para ingressar em uma fase “adulta”, em que criatividade tecnológica e disciplina de risco deixam de ser forças em tensão e passam a ser partes indissociáveis da mesma equação regulatória e de negócios.
Rodrigo Caldas de Carvalho Borges, advogado, sócio no CBA | Carvalho Borges Araujo Advogados. Membro fundador da Oxford Blockchain Foundation. Mentor do Next da Fenasbac. Pós-graduado em direito societário pelo INSPER e bacharel em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.