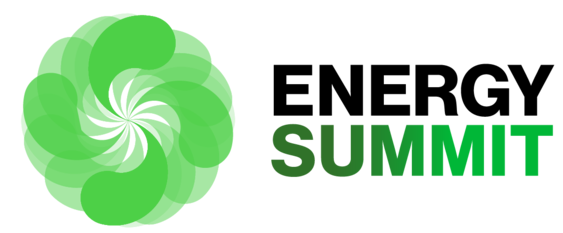A internet adora um bom neologismo, especialmente se ele consegue capturar uma mudança de tendência ou explicar um novo fenômeno. Em 2013, o colunista Adrian Wooldridge cunhou uma palavra que acabaria por fazer ambos. Escrevendo para o Economist, ele alertou sobre o iminente “techlash,” uma revolta contra os ricos e poderosos do Vale do Silício, alimentada pela crescente percepção pública de que esses “soberanos do ciberespaço” não eram – como alegavam no passado – os benevolentes portadores de um futuro brilhante.
Embora Wooldridge não tenha especificado exatamente quando esse techlash chegaria, está claro hoje que uma mudança dramática na opinião pública em relação às Big Techs e seus líderes de fato ocorreu — e, possivelmente, ainda está em andamento. Diga o que quiser sobre as legiões de seguidores de Elon Musk no X, mas se uma indústria e seus executivos conseguem unir figuras como Elizabeth Warren e Lindsey Graham em uma condenação compartilhada, definitivamente não estão vencendo muitos concursos de popularidade.
Para ser claro, sempre houve críticos dos excessos e abusos muito reais do Vale do Silício. Mas, durante a maior parte das últimas duas décadas, muitas dessas vozes dissidentes foram descartadas como Ludditas irremediáveis e inimigos do progresso ou abafadas por um grupo mais numeroso e barulhento de tecno-otimistas. Hoje, esses mesmos críticos (juntamente com muitos novos) voltaram à arena, rearmados com Substacks populares, colunas na mídia e, cada vez mais, contratos para livros.
Dois dos acréscimos mais recentes ao florescente gênero techlash — The Venture Alchemists: How Big Tech Turned Profits into Power, de Rob Lalka, e The Tech Coup: How to Save Democracy from Silicon Valley, de Marietje Schaake — servem como lembretes contundentes do porque, em primeiro lugar, essa reação começou. Juntos, os livros (ambos sem tradução para o português) narram a ascensão de uma indústria que está usando sua riqueza e poder para minar a democracia. Eles delineiam, ainda, o que podemos fazer para começar a retomar parte desse poder.
Em The Venture Alchemists, Lalka, professor de negócios na Universidade Tulane, foca em como um pequeno grupo de empreendedores conseguiu transmutar um punhado de ideias inovadoras e apostas ousadas em uma riqueza e influência sem precedentes. Embora os nomes desses semideuses da disrupção provavelmente sejam familiares a qualquer pessoa com acesso à internet e algum interesse pelo Vale do Silício, Lalka começa seu livro com uma página que exibe nove rostos (majoritariamente) jovens e (majoritariamente) sorridentes.
Entre as fotos estão os famosos fundadores Mark Zuckerberg, Larry Page e Sergey Brin; os investidores de risco Keith Rabois, Peter Thiel e David Sacks; e um trio mais diversificado formado pelo ex-CEO da Uber, Travis Kalanick, o ardente eugenista e considerado pai do Vale do Silício Bill Shockley (que, vale notar, faleceu em 1989), e um ex-investidor de risco e futuro vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance.
Ao longo do livro, Lalka pega essa miscelânea de titãs da tecnologia e utiliza suas histórias de origem e networking para explicar como a chamada mentalidade do Vale do Silício (vírus mental?) se tornou não apenas uma característica do condado de Santa Clara, na Califórnia, mas também a forma predominante de pensar sobre sucesso e inovação em toda a América.
Essa abordagem de fazer negócios, geralmente envolta em uma avalanche de jargões constrangedores de inovação — disrupt ou seja disruptado, mova-se rápido e quebre coisas, melhor pedir perdão do que permissão —, muitas vezes pode mascarar uma ética mais sombria e autoritária, segundo Lalka.
Um dos nove empreendedores destacados no livro, Peter Thiel, escreveu que “não acredito mais que liberdade e democracia sejam compatíveis” e que “competição [nos negócios] é para perdedores.” Outros acreditam que todo progresso tecnológico é inerentemente bom e deve ser buscado a qualquer custo. Alguns também veem a privacidade como um conceito antiquado — até mesmo uma ilusão — e acham que suas empresas devem ter liberdade para acumular e lucrar com nossos dados pessoais. Acima de tudo, Lalka argumenta, esses homens acreditam que seu poder recém-adquirido deve ser irrestrito por governos, reguladores ou qualquer um que ouse impor limitações.
De onde exatamente vêm essas crenças? Lalka aponta para pessoas como o falecido economista e defensor do mercado livre Milton Friedman – que afirmou famosamente que a única responsabilidade social de uma empresa é aumentar os lucros –, bem como para Ayn Rand, a autora, filósofa e ícone de adolescentes incompreendidos que tentou transformar o egoísmo em uma virtude.
É uma explicação um tanto reducionista e não completamente original das inclinações libertárias do Vale do Silício. O que realmente importa, no entanto, é que muitos desses “valores” foram subsequentemente codificados no DNA das empresas que esses homens fundaram e financiaram — empresas que hoje moldam como nos comunicamos, como compartilhamos e consumimos notícias e até mesmo como pensamos sobre nosso lugar no mundo.
O ponto forte de The Venture Alchemists é descrever as travessuras em estágios iniciais e as controvérsias nos campi que moldaram esses jovens empreendedores – ou, em muitos casos, simplesmente revelaram quem eles sempre foram. Lalka é um pesquisador meticuloso e tenaz, como sugerem as 135 páginas de notas no final do livro. E, embora quase todas essas histórias já tenham sido contadas antes em outros livros e artigos, ele ainda consegue oferecer novas perspectivas a partir de fontes como jornais universitários e documentos vazados.
Uma coisa que o livro faz de forma particularmente eficaz é desinflar o mito de que esses empreendedores eram, de alguma forma, videntes dotados de um olhar para o futuro que o resto de nós não podia compreender ou prever.
Claro, alguém como Thiel fez o que acabou sendo um investimento astuto no Facebook logo no início, mas também cometeu alguns erros muito custosos com essa participação. Como Lalka aponta, o Founders Fund de Thiel vendeu dezenas de milhões de ações logo após o Facebook se tornar público, e o próprio CEO passou de possuir 2,5% da empresa em 2012 para 0,000004% menos de uma década depois (por volta da mesma época em que o Facebook atingiu sua avaliação de um trilhão de dólares). Adicione a isso suas previsões objetivamente terríveis em 2008, 2009 e além — quando ele efetivamente apostou contra um dos mercados de alta mais longos da história mundial —, e fica a impressão de que ele é menos um oráculo e mais um ideólogo que, por acaso, arriscou alto e teve alguns retornos.
Um dos mantras favoritos de Lalka ao longo de The Venture Alchemists é que “as palavras importam.” De fato, ele usa muitos dos termos desses empreendedores para expor sua hipocrisia, intimidação, “contrarianismo” juvenil, racismo casual e — sim — ganância e interesse próprio descarados. Não é, nem de longe, uma imagem lisonjeira.
Infelizmente, em vez de simplesmente deixar que essas palavras e ações falem por si mesmas, Lalka sente a necessidade de intervir com seus próprios comentários, pedindo repetidamente aos leitores que evitem apontar o dedo ou julgar esses homens com muita severidade, mesmo após relatar suas inúmeras transgressões. Seja para tentar transmitir uma aparência de objetividade ou simplesmente para lembrar aos leitores que esses empreendedores são indivíduos complexos enfrentando decisões difíceis, essa abordagem não funciona. De forma alguma.
Por um lado, Lalka claramente tem opiniões fortes sobre o comportamento desses empreendedores — opiniões que ele não tenta disfarçar. Em um momento do livro, ele sugere que a abordagem de “dominância a qualquer custo” de Kalanick para gerir a Uber é “quase, mas não exatamente” um estupro (uma comparação que dificilmente alguém faria se quisesse parecer um árbitro imparcial). E se ele realmente deseja que os leitores cheguem a uma conclusão diferente sobre esses homens, certamente não fornece muitas razões para isso. Simplesmente dizer “julgue menos e discirna mais” parece pior que uma fuga de responsabilidade. Soa “quase, mas não exatamente” como culpar as vítimas — como se, de alguma forma, fôssemos tão culpados quanto eles por usarmos suas plataformas e comprarmos suas narrativas heroicas.
“De muitas maneiras, o Vale do Silício tornou-se a antítese do que seus pioneiros originais buscavam ser.”
— Marietje Schaake
Igualmente frustrante é o crescendo de platitudes vazias que encerra o livro. “As tecnologias do futuro devem ser perseguidas de forma ponderada, ética e cautelosa”, diz Lalka, após passar 313 páginas mostrando como esses empreendedores ignoraram deliberadamente os três advérbios. O que eles construíram, em vez disso, são enormes máquinas de criação de riqueza que dividem, distraem e nos espionam. Talvez seja só comigo, mas esse tipo de comportamento parece pronto não apenas para julgamento, mas também para ação.
Então, o que exatamente se faz com um grupo de homens aparentemente incapazes de uma autorreflexão séria — homens que acreditam, sem sombra de dúvida, em sua própria grandeza e se sentem confortáveis em tomar decisões em nome de centenas de milhões de pessoas que não os elegeram e que não necessariamente compartilham de seus valores?
Você os regula, é claro. Ou pelo menos regula as empresas que eles administram e financiam. Em The Tech Coup, de Marietje Schaake, os leitores encontram um roteiro de como essa regulamentação pode se formar, juntamente com um relato revelador de quanto poder já foi cedido a essas corporações nos últimos 20 anos.
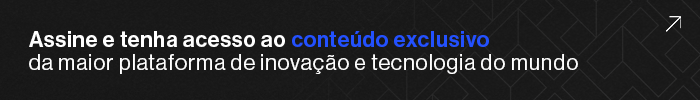
Há empresas como a NSO Group, cuja poderosa ferramenta de spyware Pegasus foi vendida a autocratas que, por sua vez, a usaram para reprimir dissidências e monitorar críticos. Bilionários estão agora, efetivamente, tomando decisões de segurança nacional em nome dos Estados Unidos e usando suas empresas de mídia social para promover agitação e teorias da conspiração de direita, como Musk faz com seus satélites Starlink e a plataforma X. Empresas de transporte por aplicativo usam seus próprios sistemas como ferramentas de propaganda e canalizam centenas de milhões de dólares em iniciativas de votação para revogar leis que não lhes agradam. A lista continua. Segundo Schaake, esse poder desproporcional e amplamente sem controle está mudando fundamentalmente a forma como a democracia funciona nos Estados Unidos.
“De muitas maneiras, o Vale do Silício tornou-se a antítese do que seus pioneiros originais buscavam ser: de descartar o governo para literalmente assumir funções equivalentes; de enaltecer a liberdade de expressão para tornar-se curadores e reguladores do discurso; e de criticar os abusos de poder do governo para acelerá-los por meio de ferramentas de spyware e algoritmos opacos”, escreve.
Schaake, ex-membro do Parlamento Europeu e atual diretora de políticas internacionais no Centro de Políticas Cibernéticas da Universidade de Stanford, é, em muitos aspectos, a cronista perfeita para relatar a tomada de poder das Big Tech. Além de sua clara expertise nos campos da governança e tecnologia, ela também é holandesa, o que a torna imune à doença distintamente norte-americana que parece equiparar riqueza extrema — e o poder que a acompanha — à virtude e inteligência.
Essa resistência aos diversos campos de distorção da realidade emanados do Vale do Silício desempenha um papel crucial em sua capacidade de enxergar através das muitas justificativas e soluções interesseiras que vêm dos próprios líderes tecnológicos. Schaake entende, por exemplo, que quando alguém como Sam Altman, da OpenAI, vai ao Congresso e implora por regulamentação da IA, o que ele realmente está fazendo é pedir que o Congresso crie uma espécie de “fosso regulatório” entre sua empresa e outras startups que possam ameaçá-la — e não agindo por um desejo genuíno de prestação de contas ou limites governamentais.
Como Shoshana Zuboff, autora de The Age of Surveillance Capitalism, Schaake acredita que “o digital” deve “viver dentro da casa da democracia” — ou seja, as tecnologias devem ser desenvolvidas dentro do arcabouço democrático, e não o contrário. Para alcançar esse realinhamento, ela oferece uma gama de soluções, desde banir o que considera tecnologias claramente antidemocráticas (como softwares de reconhecimento facial e outras ferramentas de espionagem) até criar equipes independentes de conselheiros especializados para membros do Congresso (que muitas vezes não têm o preparo necessário para entender tecnologias e modelos de negócios).
Previsivelmente, todo esse interesse renovado na regulamentação culminou em uma reação acentuada nos últimos anos — uma espécie de “revanchismo tecnológico”, para emprestar uma expressão do jornalista James Hennessy. Além dos ataques familiares, como tentar retratar os defensores do techlash como antitecnologia (o que não são), as empresas também estão gastando quantias massivas de dinheiro para reforçar seus esforços de lobby.
Alguns investidores de risco, como Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn, que fez grandes doações para a campanha presidencial de Kamala Harris, queriam remover Lina Khan, presidente da Comissão Federal de Comércio (FTC). Eles alegaram que a regulamentação está matando a inovação (não está) e removendo os incentivos para começar uma empresa (não é o caso). E, claro, há Musk, que parece estar em uma liga própria no que diz respeito ao quanto pode influenciar Donald Trump e o governo com o qual suas empresas têm contratos valiosos.
O que todas essas alegações de vitimização e esforços subsequentes para comprar uma saída da supervisão regulatória ignoram é que há, na verdade, um vasto e fértil meio-termo entre o simples tecno-otimismo e o tecno-ceticismo. Como o colaborador da New Yorker Cal Newport e outros já notaram, é perfeitamente possível apoiar inovações que podem melhorar significativamente nossas vidas sem aceitar que toda invenção popular é boa ou inevitável.
Regular as Big Techs será substancial para equilibrar o meio de campo e garantir que os deveres básicos de uma democracia possam ser cumpridos. Mas, como sugerem Lalka e Schaake, outra batalha pode se provar ainda mais difícil e contenciosa: desfazer a lógica falha e as filosofias cínicas e autoritárias que nos levaram ao ponto em que estamos agora.
E se admitíssemos que constantes bacanais de disrupção não são, de fato, tão boas para o nosso planeta ou para nossas mentes? E se, em vez de “destruição criativa”, começássemos a valorizar a estabilidade, e, no lugar de causar “amassados no universo”, redirecionássemos nossos esforços para consertar o que já está quebrado? E se — e me acompanhe nessa — admitíssemos que a tecnologia pode não ser a solução para todos os problemas que enfrentamos como sociedade e que, embora a inovação e as mudanças tecnológicas possam, sem dúvida, trazer benefícios sociais, elas não precisam ser as únicas medidas de sucesso econômico e qualidade de vida?
Quando ideias como essas começarem a soar menos como conceitos radicais e mais como senso comum, saberemos que o techlash finalmente alcançou algo verdadeiramente revolucionário.
Bryan Gardiner é um escritor baseado em Oakland, Califórnia.