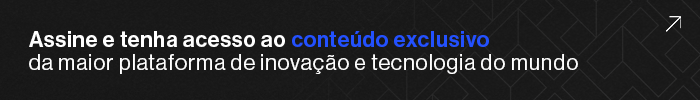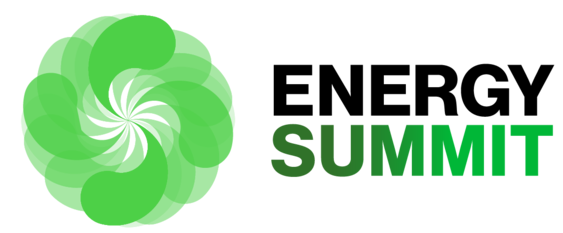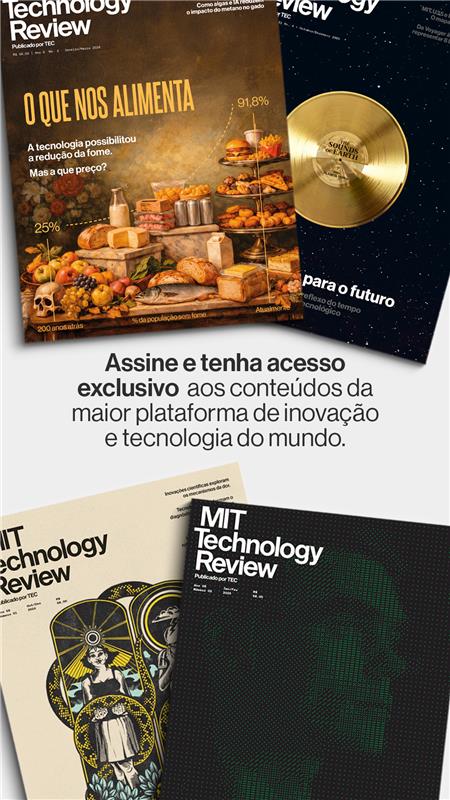Há cerca de cinco anos, arqueólogos encontraram fragmentos brilhantes de vidro negro dentro do crânio de um homem que morreu na erupção do Monte Vesúvio, no ano 79 d.C. Aparentemente, são pedaços de seu cérebro, transformados em vidro.
Cientistas já encontraram cérebros antigos antes — alguns com pelo menos 10.000 anos. Mas esta é a primeira vez que se observa um cérebro vitrificado. Eles até conseguiram identificar neurônios dentro dele.
Os restos desse homem foram encontrados em Herculano, uma antiga cidade soterrada sob metros de cinzas vulcânicas após a erupção. Não se sabe se há outros cérebros vitrificados no local. Nenhum foi encontrado até agora, mas apenas cerca de um quarto da cidade foi escavado.
Alguns arqueólogos desejam continuar escavando o sítio. No entanto, outros argumentam que é necessário protegê-lo. Escavações adicionais podem expô-lo aos elementos, colocando os artefatos e restos em risco de deterioração. Como um sítio arqueológico só pode ser escavado uma vez, talvez valha a pena esperar até que a tecnologia permita fazê-lo da maneira menos destrutiva possível.
Afinal, há relatos recentes assustadores sobre escavações envolvendo esmerilhadeiras e partes de corpos antigos acabando em garagens. Tecnologias futuras podem acabar tornando nossos métodos atuais igualmente bárbaros.
O fato inescapável em campos como a arqueologia ou a paleontologia é este: ao estudar restos antigos, é provável que eles sejam danificados de alguma forma. Um exemplo disso é a análise de DNA. Os cientistas avançaram muito nessa área. Hoje, geneticistas conseguem decifrar o código genético de animais extintos e analisar DNA em amostras de solo para reconstruir a história de um ambiente.
Mas esse tipo de análise destrói a amostra. Para realizar testes de DNA em restos humanos, os cientistas normalmente retiram um pedaço de osso e o moem. Às vezes, usam um dente. Mas, uma vez estudado, aquele material desaparece para sempre.
Escavações arqueológicas ocorrem há centenas de anos e, até a década de 1950, era comum que arqueólogos escavassem completamente um sítio assim que o descobriam. Mas essas escavações também causam danos.
Hoje em dia, quando um sítio é encontrado, arqueólogos tendem a se concentrar em questões de pesquisa específicas que desejam responder e escavam apenas o necessário para isso, explica Karl Harrison, arqueólogo forense da Universidade de Exeter, no Reino Unido. “Cruzamos os dedos, escavamos o mínimo possível e torcemos para que a próxima geração de arqueólogos tenha ferramentas melhores e habilidades mais refinadas para trabalhar com esse tipo de material”, diz ele.
De modo geral, os cientistas também se tornaram mais cuidadosos com restos humanos. Matteo Borrini, antropólogo forense da Liverpool John Moores University, no Reino Unido, é responsável pela curadoria da coleção de restos esqueléticos da universidade, que inclui cerca de 1.000 esqueletos de britânicos medievais e vitorianos. Esses esqueletos são extremamente valiosos para a pesquisa, afirma Borrini, que já investigou os restos de uma pessoa que morreu por exposição ao fósforo em uma fábrica de fósforos e de outra que foi assassinada.
Quando pesquisadores pedem para estudar os esqueletos, Borrini verifica se a pesquisa irá alterá-los de alguma forma.
“Se houver coleta destrutiva de amostras, precisamos garantir que a destruição será mínima e que ainda restará material suficiente para estudos futuros”, diz ele. “Caso contrário, não autorizamos o estudo.”
Se ao menos as gerações anteriores de arqueólogos tivessem adotado essa abordagem. Harrison me contou a história da descoberta do ‘Homem de St Bees’, um homem medieval encontrado em um caixão de chumbo em Cúmbria, no Reino Unido, em 1981. Acredita-se que ele tenha morrido no século XIV e estava extraordinariamente bem preservado—sua pele ainda estava intacta, seus órgãos estavam presentes e até seus pelos corporais permaneceram.
Normalmente, arqueólogos escavam tais espécimes antigos com cuidado, utilizando ferramentas feitas de materiais naturais, como pedra ou tijolo, explica Harrison. Mas esse não foi o caso do Homem de St Bees. “Seu caixão foi aberto com uma esmerilhadeira”, diz Harrison. O corpo foi retirado e colocado em um caminhão, onde passou por uma autópsia forense moderna padrão, ele acrescenta.
“O seu tórax provavelmente foi aberto, seus órgãos removidos e pesados, e o topo de sua cabeça foi cortado”, diz Harrison. Amostras de seus órgãos foram guardadas na garagem do patologista por 40 anos.
Se o Homem de St Bees fosse descoberto hoje, a história seria completamente diferente. O caixão seria reconhecido como um artefato antigo valioso, que deveria ser manuseado com extremo cuidado, e os restos do homem seriam escaneados e analisados da forma menos destrutiva possível, afirma Harrison.
Mesmo o Homem de Lindow, descoberto apenas três anos depois, na vizinha Manchester, teve um tratamento muito melhor. Seus restos foram encontrados em um pântano de turfa, e acredita-se que ele tenha morrido há mais de 2.000 anos. Diferente do infeliz Homem de St Bees, ele passou por uma investigação científica cuidadosa, e seus restos foram expostos com destaque no Museu Britânico. Harrison lembra-se de ter visitado a exposição quando tinha 10 anos.
Harrison diz que sonha com tecnologias de DNA minimamente destrutivas—ferramentas que nos ajudem a entender a vida de pessoas que morreram há muito tempo sem danificar seus restos mortais. Estou ansioso para cobrir esses avanços no futuro. (Enquanto isso, pessoalmente, estou sonhando com uma viagem para—com respeito e cuidado—visitar Herculano.)