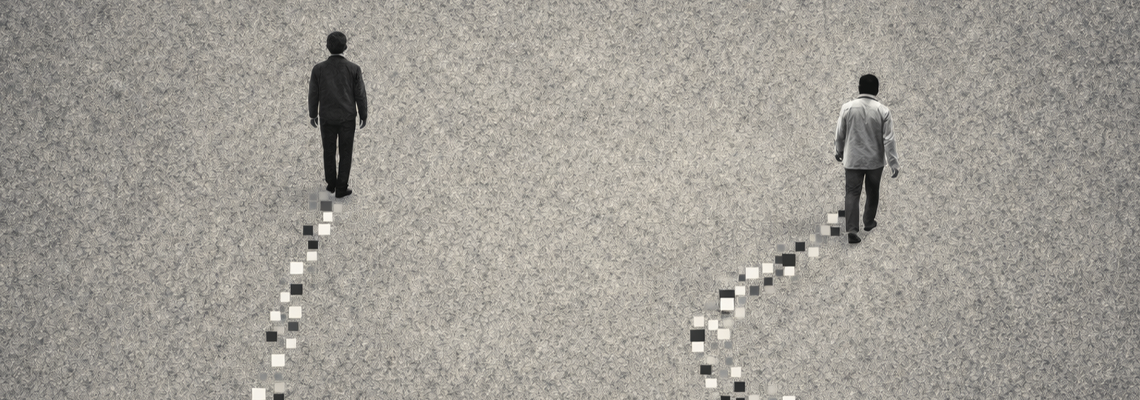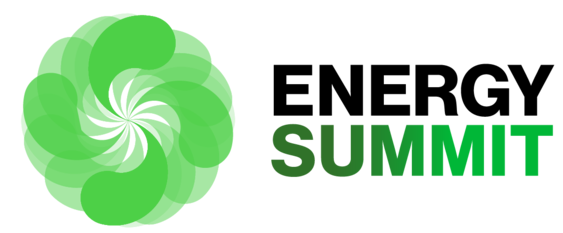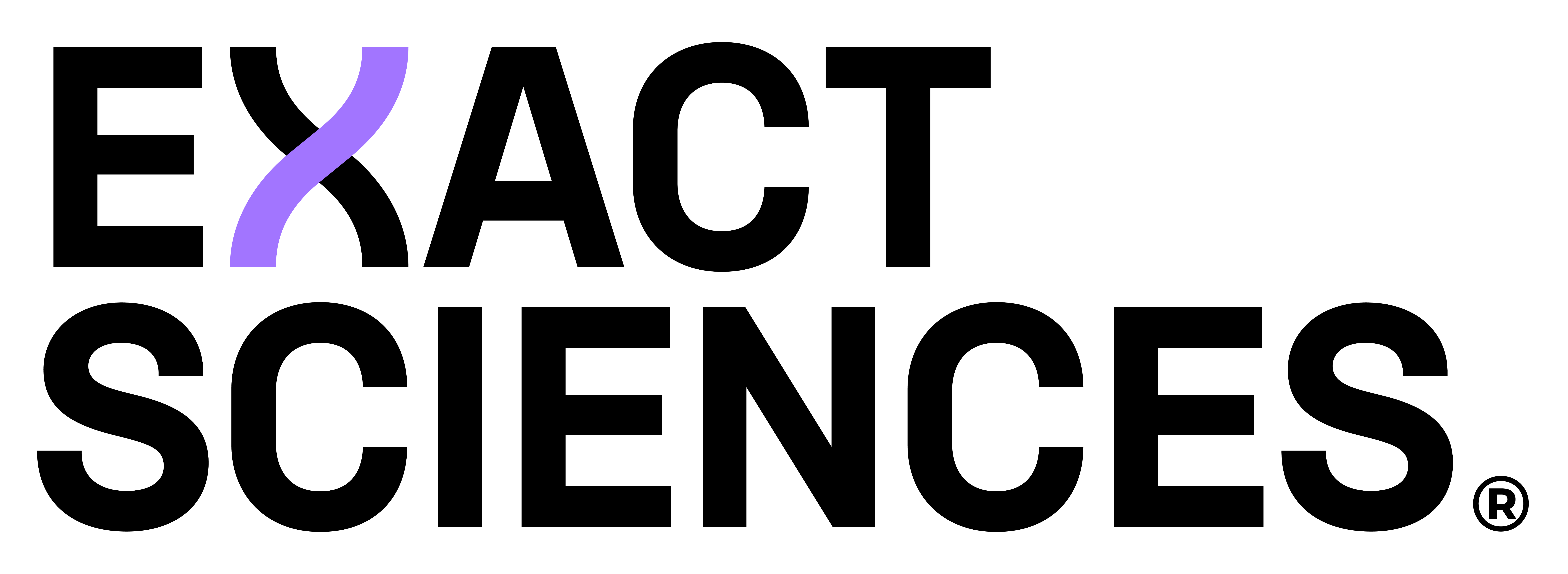Imagine o seguinte cenário: um cliente percebe falhas na Internet e decide abrir um chamado para resolver um problema técnico. Busca o caminho mais direto, liga para a central, faz a identificação, fornece todos os dados e ouve que, para concluir o atendimento, é necessário usar o aplicativo. Ao mudar de canal, precisa repetir as mesmas informações, mas ainda não encontra uma solução clara e decide tentar uma terceira via, o site, onde refaz, mais uma vez, os mesmos passos.
A frustração vai aumentando até o ponto em que a falha técnica deixa de ser o centro do problema. O que pesa é o tempo perdido e a sensação de que cada etapa o faz começar do zero. Essa situação ilustra o fim das jornadas lineares, que antes seguiam um caminho quase único e previsível, geralmente concentrado em somente um ponto de contato. Hoje, a experiência se desenrola entre idas e vindas, com a expectativa de que a marca preserve o contexto e a continuidade, mesmo quando o cliente a interrompe, mudando de tela e retomando por outro caminho.
Diante disso, as empresas tentam responder com personalização e automação, mas encontram um limite recorrente: sistemas fragmentados, dados que não circulam e fluxos redundantes que multiplicam esforços e contradizem a própria promessa de conveniência. Quando isso ocorre, a ruptura não se explica apenas por uma interface. A origem costuma estar na base, com serviços e processos operando em silos, mostrando como a experiência digital está ligada a uma questão de infraestrutura.
Por que a experiência exige uma nova arquitetura
Para empresas que colocam o cliente no centro da estratégia, adotar uma arquitetura componível deixa de ser uma escolha restrita à tecnologia e passa a ser um requisito para sustentar a experiência e o bom funcionamento do negócio. Isso porque a tolerância do usuário com esse tipo de fricção é baixa.
A PwC mostra isso em dois levantamentos. No “Experience is everything: Here’s how to get it right” (2018), uma pesquisa com diversos países, 17% dos respondentes dizem que abandonam uma marca após uma única experiência ruim e 59% depois de várias. No “Customer Experience Survey”, com recorte dos EUA, 52% afirmam que já pararam de comprar ou usar uma marca pelo mesmo motivo.
Flávio Moitinho, gerente-geral LATAM da Liferay, resume a ideia com uma metáfora: a arquitetura componível seria “a lubrificação que tira a fricção do negócio”. Na prática, isso significa reduzir o atrito na jornada dos canais digitais, fazendo o usuário gastar menos tempo tentando entender como o portal ou o app funciona e mais tempo indo direto ao que a empresa oferece, seja comprar ou acessar um serviço.
Personalização de verdade começa pela infraestrutura
Ao passar para a aplicação prática, quando se pensa em personalização da jornada do cliente, essa situação vai muito além da parte visual. Afinal, não é complexo para uma empresa trocar um banner ou ajustar uma vitrine de um site. “O front seria quase uma maquiagem”, explica Flávio. Essa seria uma camada mais simples e superficial, que pode até melhorar a aparência, mas não muda a lógica da navegação.
O que sustenta essa adaptação está no back, isto é, quando a infraestrutura do ecossistema digital permite que a experiência seja ajustada a partir de eventos e dados concretos, e não apenas por escolhas estéticas. Nesse modelo, o que o cliente vê e pode fazer muda conforme o momento, porque a plataforma consegue ler o contexto de acesso e refletir sobre isso imediatamente.
Por exemplo, em um portal institucional, a organização pode conhecer melhor quem acessa mesmo fora de uma área logada. Em vez de tratar todo visitante como um perfil genérico, a plataforma identifica de onde ele veio, inclusive se chegou a partir de um concorrente, e entrega conteúdo com base nos dados identificados. Logo, uma experiência efetivamente fluida se caracteriza por uma jornada guiada por informações reais no back e não apenas por uma vitrine bem montada no front.
Esse nível de personalização precisa ser pensado desde a base. E é aí que entra a arquitetura componível, um estilo de sistemas de software construído a partir de componentes e serviços modulares, que podem ser combinados e recombinados conforme a necessidade. Em vez de depender de um modelo único e rígido, a empresa organiza capacidades como autenticação, conteúdo, busca, atendimento e dados como partes separadas, conectadas e reutilizáveis.
É nessa lógica que Moitinho descreve a atuação da Liferay. A abordagem parte do princípio de não “jogar tudo fora”, mas trabalhar com o ambiente que a empresa-cliente já tem. Nesse sentido, a Liferay atua como uma orquestradora de sistemas legados, conectando a fundação que já existe, processando dados e serviços dispersos e levando esse conjunto para a camada de experiência. No front, o resultado aparece em uma interface mais consistente e em um percurso mais unificado. “É como se a gente fosse a base, uma base sólida que permite que o resto seja flexível”, explica.
Esse mesmo princípio também muda o ritmo de evolução do ecossistema digital. Em vez de exigir uma substituição total do stack (o conjunto de tecnologias e sistemas que sustentam uma operação digital), a arquitetura componível permite integrar novas soluções ao que a empresa já tem por meio de APIs (interfaces de programação de aplicações). Ou seja, facilita quando se quer adicionar ou trocar componentes sem perder o que já funciona.
Com isso, nesse modelo de infraestrutura adotado pela Liferay, “você não precisa derrubar o prédio inteiro para construir”, como explica Flávio. O resultado é mais liberdade estratégica para testar ferramentas e ajustar o ecossistema conforme o que funciona melhor, sem ficar preso a um fornecedor e sem ter de fazer reestruturações profundas a cada mudança.
Um desafio técnico e cultural
O travamento por silos não é algo incomum no mercado. Em um estudo do MIT CISR, “Future Ready? Pick Your Pathway for Digital Business Transformation” de 2017, que combina um levantamento com 413 líderes de tecnologia e entrevistas com executivos, 51% das empresas aparecem na categoria “Silos and Spaghetti”, definida como um acúmulo de sistemas, processos e dados desconectados que dificulta integrar canais e preservar contexto ao longo da jornada do cliente. Quando a base é essa, qualquer tentativa de personalização vira um paliativo: funciona na superfície, mas falha na continuidade.
Para sustentar esse nível de personalização, é preciso, como explica Flávio, “que os sistemas internos conversem”. Sem essa integração, a empresa pode até apresentar um front com “cara bonita”, mas o esforço para manter essas adaptações cresce rápido, e o custo tende a superar o retorno, sinal de que a transformação deveria ter começado “desde a base, desde a fundação”, como ressaltou o executivo.
Para além de uma base integrada, a aplicação desse modelo também esbarra em um fator cultural. Na arquitetura tradicional, cada área tende a ser “dona” do seu sistema, o que cria ilhas de tecnologia, com decisões e prioridades locais, além de haver pouca disposição para compartilhar dados, serviços e regras com outros times.
No modelo componível, os recursos, como dados, capacidades e integrações, deixam de pertencer a um único “dono” e passam a ser usados por diferentes equipes conforme a necessidade do negócio. Essa mudança alimenta resistência porque exige abrir mão do controle isolado e trabalhar com mais coordenação entre áreas, condição necessária para que a integração e a personalização sustentadas a partir da fundação se tornem viáveis na prática.
Por isso, Flávio conclui que optar por esse caminho é “mais de negócio do que de TI”. A tecnologia entra como meio para viabilizar a entrega que chega ao cliente. O usuário não enxerga sistemas, camadas ou responsáveis internos, apenas percebe se a experiência se mantém consistente do início ao fim. No centro dessa decisão está a capacidade da empresa de integrar áreas, compartilhar recursos e sustentar essa coerência na prática.
A experiência orientada por intenção
O horizonte que se desenha para as jornadas digitais desloca o foco da navegação para a intenção. Em vez de acessar um portal “sobre páginas”, com menus e cliques sucessivos, a tendência é que o usuário chegue a um ponto de contato e peça diretamente o que precisa, “seja no chatbot, seja, enfim, em algum canal”. A experiência passa a ser comandada por solicitações em linguagem natural, com respostas prontas e contextualizadas.
Essa mudança aumenta a exigência sobre a base. Como observa Flávio Moitinho, executivo da Liferay, a fundação precisa estar preparada para entregar essa resposta certa em questão de milissegundos, independentemente do ponto de acesso, seja portal, aplicativo ou totem. A promessa, nesse cenário, é de uma “arquitetura invisível”, em que o usuário não percebe a complexidade por trás, mesmo quando a resposta depende da comunicação entre muitos sistemas.
Há também um novo efeito sobre descoberta e conversão. Agentes de IA se tornam um canal adicional de acesso ao conteúdo das empresas, recuperando informações e apresentando referências que podem direcionar tráfego qualificado. Mas essa vitrine não é garantida. Se a arquitetura não estiver “mais simples, mais limpa, mais organizada” e pronta para servir informações com rapidez e consistência, a resposta pode priorizar fontes concorrentes, fazendo a empresa perder a oportunidade no momento em que a intenção do usuário já está formada.