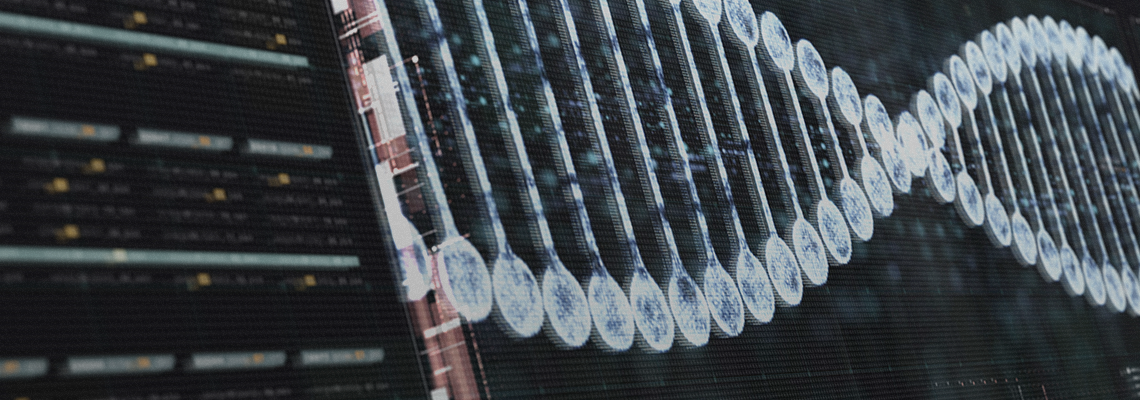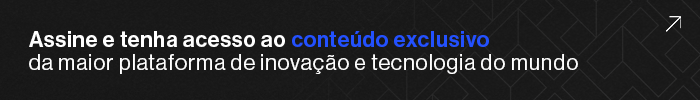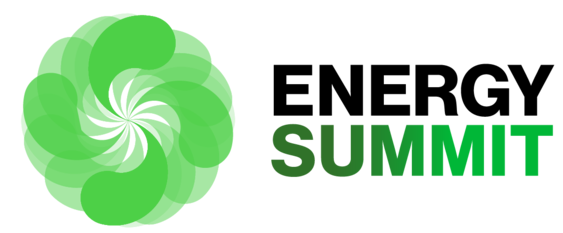Oferecido por

Desde a Antiguidade, os humanos buscam previsões sobre o futuro, e as diferentes civilizações desenvolveram seus métodos e símbolos particulares para fazer projeções. A explicação é bastante compreensível: sabendo o que enfrentar, é possível se preparar melhor para determinada situação. Pode-se dizer que esse comportamento perpassa gerações – e, no mundo moderno, os “oráculos” foram aperfeiçoados pela Ciência e pela Tecnologia, ao menos quando o assunto é a saúde.
Uma das possibilidades trazidas pela medicina de precisão é conhecer a predisposição de um indivíduo para uma determinada doença por meio do mapeamento dos seus genes. Esse conhecimento serve para orientar sobre eventuais medidas de prevenção, para alertar sobre a necessidade de investir em uma rotina de rastreio, e, caso a doença já tenha se instalado, auxiliar no direcionamento do melhor tratamento.
Mas, até onde é possível chegar com a predição genética? Há um limite para ela? Se o objetivo de coletar essa informação é o rastreio ou a adoção de terapias mais adequadas, há pouco espaço para questionamentos. Contudo, quando falamos sobre avaliar o risco de desenvolvimento de uma doença no futuro, alguns dilemas entram no debate.
“Área cinzenta”
Segundo o oncologista e gerente médico do programa de medicina de precisão do Hospital Israelita Albert Einstein, Fernando Moura, há uma “área cinzenta” quando o assunto é avaliar o risco de desenvolver uma doença por meio do mapeamento genético.
“Há doenças cuja predisposição do indivíduo pode ser identificada, mas para as quais não há o que ser feito de forma preventiva”, afirma. Ele cita o exemplo de James Watson, cientista que descobriu o DNA em dupla hélice, considerado o “pai” do projeto Genoma Humano.
Em 2007, Watson foi o primeiro ser humano a ter o seu genoma completamente estudado. “Foi-lhe entregue o resultado de um teste genético, mas ele pediu que o cromossomo 19 não fosse avaliado. Por quê? Porque, no cromossomo 19, tem o gene apoE, que prediz Alzheimer, e Watson tinha casos de Alzheimer na família de uma maneira muito frequente. Ele não quis saber sobre o risco de desenvolver a doença porque não saberia viver com essa angústia. E, de fato, não temos hoje nenhuma ferramenta que vá prevenir com segurança o desenvolvimento de Alzheimer”, conta Moura.
O cenário é completamente diferente, porém, um achado genético pode orientar a abordagem terapêutica. “Pense na seguinte situação: em uma avaliação, encontram-se genes que elevam o risco de morte súbita, arritmia cardíaca. Podemos corrigir esse risco implantando dispositivos que vão funcionar como um marca-passo cardíaco”, exemplifica Moura.
E esse mapeamento tão complexo pode ser feito por meio de um simples exame de sangue. No Einstein, por exemplo, o exame Predicta avalia 563 genes e analisa os riscos de desenvolver 22 tipos de cânceres, distúrbios cardiovasculares, neurológicos e de metabolismo, além de traçar o perfil farmacogenômico, de ancestralidade e de doenças raras. explica que um médico geneticista acompanha o paciente com seus resultados por cinco anos. “Quando encontramos alguma alteração, não quer dizer que o paciente necessariamente vai desenvolver uma doença, e, sim, que existe um risco aumentado para o problema”, explica.
Epigenética: quando apenas a genética não é mais determinante
Para o médico José Claudio Casali da Rocha, head de oncogenética do A.C. Camargo Cancer Center de São Paulo, a oncologia genética tem sido transformada pelo conceito de epigenética, que investiga como estímulos do ambiente podem ativar ou silenciar genes: “É poder mexer realmente com a expressão dos nossos genes e ter a certeza de que podemos ligar e desligar chaves o tempo todo”, diz o especialista.
O avanço científico das pesquisas trouxe descobertas que vão além das sequências de bases do DNA. Há algum tempo, as alterações epigenéticas, isto é, a regulação de quais genes são ou não expressos, vem ganhando protagonismo. Em outras palavras, um indivíduo pode ajustar a sua expressão gênica de acordo com uma série de variáveis sem haver alteração no genoma.
“Nós chamamos de ‘interação do expossoma’ toda a carga de exposição durante a vida, seja de ambiente externo, poluentes, agrotóxicos, dieta, prática de atividade, até questões endógenas, como o microbioma [todos os micro-organismos que vivem nos tecidos e fluidos humanos]”, aponta Casali. “Esse conjunto de fatores traça um mapa de exposição que vai interagir com seu genoma”. A nova perspectiva ajuda a reduzir o peso que muitos pacientes com síndrome de câncer hereditário carregam, segundo o médico.
“Muitas vezes, esses pacientes acham que estão fadados a isso ou sentem culpa por passar para a próxima geração. Já começamos a desmistificar isso. Eu falo para a paciente: ‘Com BRCA1 [mutação genética com risco aumentado para desenvolver certos tipos de câncer], você tem 70% de risco para câncer de mama. Em qual grupo você quer estar? Nos 30% que não vão ter ou nos 70% que vão ter? Temos de enfatizar isso, porque eu coloco as cirurgias preventivas como secundárias”, afirma. Cirurgias preventivas são aquelas feitas para remover um órgão com grande possibilidade de desenvolver câncer, mesmo sem sinais da doença.
Quando fazer um teste genético?
Depende. Tanto Moura quanto Casali destacam que pacientes submetidos a um teste genético devem sempre ter aconselhamento de médicos geneticistas. Isso porque o profissional avalia o resultado de forma realista e sob a perspectiva de que aquilo é uma análise de risco e não uma sentença confirmada, reforçando, então, a necessidade de prevenção e rastreio de doenças.
Por outro lado, o teste genético para quem já tem câncer determina caminhos mais precisos para o tratamento. Especialmente no caso da oncologia, a terapia-alvo coleciona relevantes avanços científicos. O mais destacado nesse âmbito é o caso do câncer de pulmão.
“Em 2005, tratávamos o câncer de pulmão metastático com um único tratamento, que era a quimioterapia. A sobrevida mediana era sempre inferior a um ano. Só que a taxa de resposta da quimioterapia nesse cenário é de 30%, ou seja, de cada 10 indivíduos, somente três têm resposta”, observa Fernando Moura. “Hoje, com as terapias-alvo modernas, quando se identifica a mutação genética, a sobrevida mediana global sobe para três a quatro anos, e a taxa de resposta vai para a casa dos 70%. Melhora muito e com muito menos efeito colateral”, relata.
No caso do paciente saudável com um histórico familiar de risco, é preciso observar o momento mais propício para sugerir o teste, segundo Casali. “A idade para recomendar o teste é quando se começa a ter risco. Testes para BRCA1 e BRCA2 são para resultados sobre síndrome de cânceres de mama, ovário, próstata, pâncreas e melanoma que não se manifestam na infância ou na adolescência.”
No caso do PT53, por exemplo, e seu rastreio da síndrome de Li-Fraumeni [síndrome hereditária de predisposição ao câncer com o risco de desenvolver tumores agressivos], que pode causar tumor na infância, é possível fazer até no nascimento da criança, se os pais já forem portadores.
Personalização: um desafio para IA
A Inteligência Artificial (IA) está na base da medicina genômica hoje. Ferramentas como algoritmos e machine learning revolucionaram a velocidade com que cientistas conseguem decifrar as funções dos genes. “Big data, dentro da saúde, é o que, de fato, possibilita que tenhamos medicina de precisão aplicada. Não tem como um médico olhar sozinho, como se fosse um resultado de exame, para 2 milhões de variantes, então lhe entregamos uma conclusão de conduta: esse paciente tem um risco aumentado para A, B e C, por exemplo”, explica Tatiana Almeida, médica geneticista e coordenadora de Ciência de Dados do Laboratório Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein.
Almeida destaca, porém, que incorporar informações individualizadas, como aquelas relacionadas ao estilo de vida, ainda é um desafio na utilização da IA. “Se eu estou rodando um modelo com dados de fenótipo, pressão arterial e batimentos cardíacos para predizer se a pessoa vai piorar, não significa que não seja preciso. Ele tem precisão dentro daquele contexto, mas isso não quer dizer que ele é necessariamente individualizado”, diz.
A coordenadora também ressalta que aplicar a genética junto ao estilo de vida dentro das tomadas de decisão é algo razoavelmente novo, visto que ainda não há maneira oficial de medir essas questões dentro do prontuário eletrônico. “Existe um desafio da medicina de precisão para trazer isso. De onde virão os dados? Dos smartwatches? Das redes sociais? E que outras informações podem ser aproveitadas?”
Ao que parece, esse é o caminho para o futuro da medicina de precisão: olhar para o todo, incluir a participação dos pacientes e, no caso dos avanços tecnológicos, conseguir atuar para além da personalização em pequenos grupos.
Por Carolina Abelin, redatora de Saúde na MIT Technology Review.