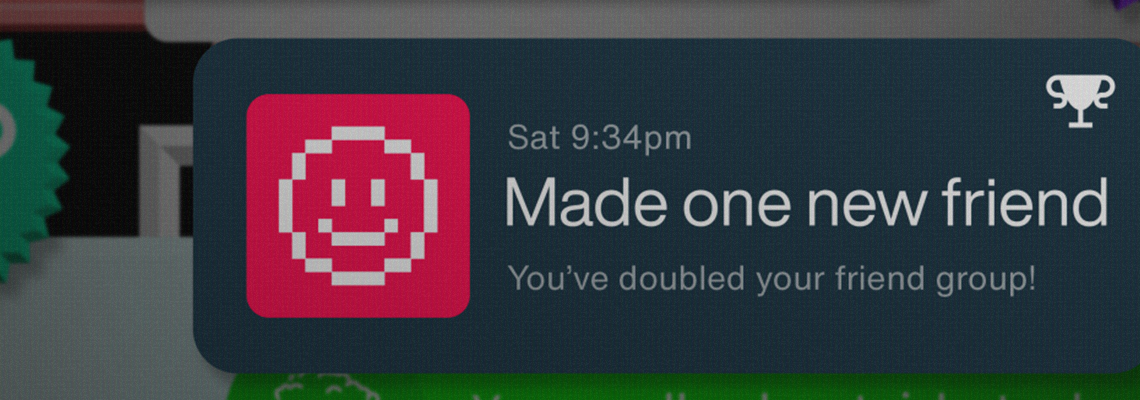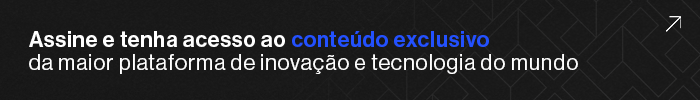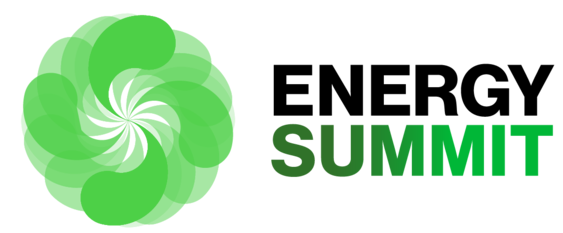Esse é um pensamento que ocorre a todo jogador de videogame em algum momento: e se o estado estranho e hiperfocado em que entro quando jogo em mundos virtuais pudesse, de alguma forma, ser aplicado ao mundo real?
Ponderada com frequência durante tarefas especialmente desafiadoras ou tediosas no espaço físico (escrever redações, por exemplo, ou pagar impostos), essa é uma pergunta sensata. A vida, afinal de contas, é difícil. E, embora os videogames também o sejam, há algo quase mágico em como eles podem promover surtos contínuos de concentração e determinação sobre-humanas.
Então, por que nos apaixonamos por eles?
Para alguns, esse fenômeno leva a um interesse em estados de fluxo e imersão, enquanto outros veem simplesmente um motivo para jogar mais. Segundo um grupo de consultores, gurus de startups e game designers, no final dos anos 2000, os jogos se tornaram a chave para liberar nosso verdadeiro potencial humano.
Em seu TED Talk de 2010, “Jogando por um mundo melhor”, a designer de jogos Jane McGonigal chamou esse estado de engajamento de “produtividade feliz”: “há um motivo pelo qual o jogador médio de World of Warcraft joga 22 horas por semana. É porque sabemos que, quando estamos jogando, ficamos mais felizes trabalhando duro do que relaxando ou saindo. Sabemos que somos otimizados como seres humanos para fazer um trabalho árduo e relevante. E os gamers estão dispostos a trabalhar duro o tempo todo”.
A proposta básica de McGonigal era a seguinte: ao tornar o mundo real mais parecido com um videogame, poderíamos aproveitar a produtividade feliz de milhões de pessoas e direcioná-la para alguns dos problemas mais espinhosos da humanidade – como pobreza, obesidade e mudanças climáticas. Os detalhes exatos de como fazer isso foram um pouco vagos (jogar mais jogos?), mas seu objetivo era nítido: “minha meta para a próxima década é tentar fazer com que seja tão fácil salvar o mundo na vida real quanto é salvar o mundo em jogos online”.
Embora a palavra “gamificação” nunca tenha sido mencionada durante sua palestra, naquele momento, qualquer pessoa que estivesse acompanhando o circuito de grandes ideias (TED, South by Southwest, DICE etc.) ou usando o novo aplicativo Foursquare, já estaria familiarizada com a ideia em si. Também definida como a aplicação de elementos e princípios de design de jogos a atividades que não são jogos – pense em pontos, níveis, missões, emblemas, placares de líderes, ciclos de reforço, e assim por diante –, a gamificação já estava sendo anunciada como uma nova ferramenta revolucionária para transformar a educação, o trabalho, a saúde, o condicionamento físico e outras inúmeras partes da vida.
Acrescentar “salvar o mundo” à lista de possíveis benefícios talvez fosse inevitável, dada a prevalência desse tema nas histórias dos videogames. Porém, também havia a premissa fundamental da gamificação: a ideia de que a realidade está, de alguma forma, quebrada.
De acordo com McGonigal e demais defensores da gamificação, o mundo real não é suficientemente envolvente e motivador, e, com muita frequência, não nos faz felizes. A gamificação promete remediar essa “falha de design”, criando uma realidade que transforma as partes monótonas, difíceis e deprimentes da vida em algo divertido e inspirador. Estudar para as provas, fazer as tarefas domésticas, usar fio dental, exercitar-se, aprender um novo idioma – não havia limite para as tarefas que poderiam ser transformadas em jogos, melhorando tudo na vida real.
Hoje, vivemos em um mundo inegavelmente gamificado. Nós nos levantamos e nos movimentamos para fechar anéis coloridos e ganhar distintivos de conquistas em nossos smartwatches; meditamos e dormimos para recarregar as baterias do nosso corpo; plantamos árvores virtuais para sermos mais produtivos; buscamos “curtidas” e “carma” em sites de mídia social e tentamos abrir caminho para a conexão social.
No entanto, apesar de todos os elementos rudimentares semelhantes a jogos, o mundo mais esperançoso e colaborativo que a gamificação prometeu há mais de uma década parece mais distante do que nunca. Em vez de nos libertar do trabalho árduo e maximizar nosso potencial, a gamificação acabou se tornando apenas mais uma ferramenta de coerção, distração e controle.
Jogo de vigarice
Esse não foi um resultado imprevisível. Desde o início, um grupo pequeno (mas expressivo) de jornalistas e designers de jogos alertou contra o pensamento de conto de fadas e a visão fácil dos videogames que eles viam no conceito de gamificação. Adrian Hon, autor de You’ve Been Played, um livro recente que narra seus perigos, foi um deles.
“Como alguém que criava os chamados ‘jogos sérios’ na época em que o conceito estava decolando, eu sabia que muitas das afirmações feitas, sobre a possibilidade de os jogos transformarem o comportamento das pessoas e mudarem o mundo, eram completamente exageradas”, relembra.
Hon não é um polemista inconsequente. Neurocientista de formação que mudou para uma carreira em design e desenvolvimento de jogos, ele é o cocriador do Zombies, Run, um dos aplicativos de fitness gamificados mais populares do mundo. Embora ainda acredite que os games podem beneficiar e enriquecer aspectos de nossa vida fora das telas, Hon diz que uma abordagem única está fadada ao fracasso. Por esse motivo, ele se opõe firmemente às camadas superficiais de pontos genéricos, tabelas de classificação e missões sobre as atividades cotidianas, tal qual às formas mais coercitivas de gamificação que invadiram o ambiente de trabalho.
Ironicamente, são esses usos amplos e diversos que tornam tão difícil criticar a prática. Como o game designer observa em seu livro, a gamificação sempre foi um alvo em rápida evolução, variando drasticamente em escala, escopo e tecnologia ao longo dos anos. À medida que o conceito evoluiu, suas aplicações também evoluíram. Agora, a mecânica de jogo incentiva que usuários de aplicativos de namoro continuem “passando o dedo”, obrigam motoristas exaustos de apps em “missões” para concluir só mais algumas viagens, e seguem na ambição utópica de usar a gamificação para salvar o mundo.
Da mesma forma que afalta de uma definição fixa da IA hoje facilita a rejeição de qualquer crítica por não abordar outra definição possível, o mesmo ocorre com as diversas interpretações da gamificação. “Lembro-me de dar palestras criticando a gamificação em conferências sobre gamificação, e as pessoas vinham até mim depois e diziam: ‘sim, gamificação ruim é ruim, certo? No entanto, estamos fazendo uma gamificação boa’”. (Não estavam.)
Para alguns críticos, a própria ideia de “gamificação boa” era um anátema. Sua queixa principal, em relação ao termo e à prática, era, e continua sendo, o fato de que tinham pouco ou nada a ver com jogos de verdade.
“Um jogo tem a ver com brincadeira, perturbação, criatividade, ambiguidade e surpresa”, escreveu o falecido Jeff Watson, um designer de jogos, escritor e educador que lecionou na Escola de Artes Cinematográficas da Universidade do Sul da Califórnia. Para ele, a gamificação era o oposto – o conhecido, o que pode ser medido, o quantificável. “Trata-se de ‘fazer check-in’, ser rastreado… [e] tornar-se mais controlado. É um sistema de vigilância e disciplina – um lobo em pele de cordeiro. Cuidado com sua sedução.”
Outra designer de jogos, Margaret Robertson, argumentou que a gamificação deveria, na verdade, ser chamada de “pontualização”: “o que estamos chamando atualmente de gamificação é, na verdade, o processo de pegar o que é menos essencial para os jogos e representá-lo como o núcleo da experiência. Pontos e emblemas não têm uma relação mais próxima com games do que com sites, aplicativos de fitness e cartões de fidelidade”.
Já para o autor e designer de jogos Ian Bogost, todo o conceito se resumia a um truque de marketing. Em um ensaio agora famoso, publicado na Atlantic em 2011, ele comparou a gamificação à definição de “besteira” do filósofo moral Harry Frankfurt, ou seja, uma estratégia para persuadir ou coagir sem levar em conta a verdade real.
“A ideia de aprender ou tomar emprestadas lições do design de jogos e aplicá-las a outras áreas nunca foi o problema para mim”, explicou-me Bogost. “Em vez disso, o problema era não fazer isso – reconhecer que há algo misterioso, poderoso e atraente nos jogos, mas, em vez de fazer o trabalho duro, não fazer trabalho algum e fugir do espírito da forma.”
Jogando com o sistema
Então, como um termo enganoso para um processo mal compreendido, que provavelmente é só uma besteira, infiltrou-se em praticamente todas as partes de nossas vidas? Não há uma resposta simples. Porém, a ascensão meteórica da gamificação começa a fazer muito mais sentido quando você olha para o período que deu origem à ideia.
O final dos anos 2000 e o início dos anos 2010 foram, como muitos observaram, uma espécie de ponto alto do otimismo tecnológico. Para as pessoas do setor de tecnologia e de fora dele, havia uma sensação de que a humanidade finalmente havia se envolvido em um conjunto difícil de problemas e que a tecnologia nos ajudaria a encontrar algumas soluções. A Primavera Árabe floresceu em 2011 com a ajuda de plataformas como o Facebook e o Twitter, o dinheiro era mais ou menos gratuito e os artigos “____ pode salvar o mundo” eram inúmeros (com ____ sendo tudo, desde “comer insetos” até “design thinking”).
Essa também foi a era que produziu a regra das 10 mil horas de sucesso, a cauda longa, a semana de trabalho de quatro horas, a sabedoria das multidões, a teoria do nudge e várias outras teorias altamente simplistas (ou, muitas vezes, totalmente erradas) sobre como funcionam os seres humanos, a Internet e o mundo.
“De repente, havia dinheiro de capital de risco, e todos os tipos de pessoas importantes e de alto poder aquisitivo apareciam nas conferências de desenvolvedores de jogos.” – Ian Bogost, autor e game designer.
A adição de videogames a esse caldeirão inebriante de otimismo deu ao setor de jogos algo que ele buscava há muito tempo, mas nunca havia conseguido: legitimidade. Mesmo com a ascensão dos games na cultura popular – e a caminho de eclipsar os setores cinematográfico e musical em termos de receita –, eles ainda eram vistos, em grande parte, como uma forma de entretenimento frívola, que reduzia a produtividade e incentivava a violência. Aparentemente, do dia para a noite, a gamificação mudou tudo isso.
“Havia definitivamente essa mentalidade de patinho feio na comunidade de desenvolvimento de jogos – a sensação de que nosso trabalho de décadas era apenas uma piada para as pessoas”, confessa Bogost. “De repente, havia dinheiro de capital de risco, e todos os tipos de pessoas importantes e de alto poder aquisitivo aparecendo nas conferências de desenvolvedores de jogos, e era como se dissessem: ‘finalmente alguém está percebendo. Eles notaram que temos algo a oferecer’”.
Isso não era apenas lisonjeiro; era intoxicante. A gamificação pegou uma busca ridicularizada e a reformulou como uma força de mudança positiva, uma maneira de melhorar o mundo real. Embora as chamadas entusiásticas para “construir uma camada de jogo sobre a realidade” possam parecer distópicas para muitos de nós hoje, o sentimento não tinha necessariamente o mesmo tom sinistro no final da década de 1980.
Combine a reformulação cultural dos jogos com uma série de tecnologias mais baratas e mais rápidas – GPS, Internet móvel onipresente e confiável, smartphones potentes, ferramentas e serviços da Web 2.0 – e você terá, sem dúvida, todos os ingredientes necessários para a ascensão da gamificação. Em um sentido muito real, a realidade em 2010 estava pronta para ser gamificada. Ou, em outras palavras, a gamificação era uma ideia perfeitamente adequada ao seu momento.
Comportamento de jogo
Tudo bem, você pode estar se perguntando neste momento: “mas isso funciona?”. Certamente, empresas como Apple, Uber, Strava, Microsoft, Garmin e outras não se dariam ao trabalho de gamificar seus produtos e serviços se não houvesse evidências da eficácia da estratégia. A resposta para essa pergunta, infelizmente, é muito chata: defina funcionar.
Como a gamificação é tão difundida e variada, é difícil abordar sua eficácia de forma direta ou abrangente. Entretanto, podemos dizer com segurança que a gamificação não salvou o mundo. A mudança climática ainda existe. Assim como a obesidade, a pobreza e a guerra. Grande parte do poder da gamificação genérica supostamente reside em sua capacidade de nos empurrar ou nos afastar de determinados comportamentos usando competição (desafios e tabelas de classificação), recompensas (pontos e emblemas de conquistas) e outras fontes de feedback, positivo e negativo.
Nesse aspecto, os resultados são mistos. A teoria dos nudges perdeu muito de seu brilho entre os acadêmicos em 2022, depois que uma meta-análise de estudos anteriores concluiu que, após a correção do viés de publicação, não havia muitas evidências de que ela funcionasse para mudar o comportamento. Ainda assim, há muitas maneiras de dar um empurrãozinho e muitos comportamentos a serem modificados. O fato é que muitas pessoas afirmam estar altamente motivadas para fechar seus anéis, ganhar suas coroas do sono ou atingir (talvez exceder) um número cada vez mais ridículo de passos em seus Fitbits (veja o caso do humorista David Sedaris).
Sebastian Deterding, um dos principais pesquisadores da área, argumenta que a gamificação pode funcionar, mas seus sucessos tendem a ser muito difíceis de reproduzir. Segundo ele, os acadêmicos não só não sabem o que funciona, quando e de que forma, como também “na maioria das vezes, as histórias não têm dados ou testes empíricos”.
Na verdade, os adeptos da gamificação sempre se baseavam em uma velha cartilha, que remonta ao início do século XX. Naquela época, behavioristas como John Watson e B.F. Skinner viam os comportamentos humanos (uma categoria que, para Skinner, incluía pensamentos, ações, sentimentos e emoções) não como produtos de estados mentais internos ou processos cognitivos, e sim resultado de forças externas que podiam ser convenientemente manipuladas.
Se a teoria do condicionamento operante de Skinner, que distribuía recompensas para reforçar positivamente determinados comportamentos, assemelha-se muito aos “Fulfillment Center Games” da Amazon, que oferecem recompensas para obrigar os funcionários a trabalharem mais, mais rápido e por mais tempo – bem, isso não é uma coincidência. A gamificação é, e sempre foi, uma forma de induzir comportamentos específicos nas pessoas usando cenouras e bastões virtuais.
Às vezes, isso pode funcionar; outras, não. Contudo, no fim das contas, como Hon aponta, a questão da eficácia pode não ser o ponto principal. “Não há um antes ou um depois para comparar se sua vida está sempre sendo gamificada”, observa. “Não existe nem mesmo uma forma estática de mensurá-la, já que o design da gamificação coercitiva está sempre mudando, um alvo em movimento que só vai em direção a uma intrusão maior e mais granular.”
O jogo da vida
Como qualquer outra forma de arte, os videogames oferecem uma variedade impressionante de possibilidades. Eles podem educar, entreter, promover a conexão social, inspirar e nos incentivar a ver o mundo de maneiras diferentes. Alguns dos melhores jogos conseguem fazer tudo isso ao mesmo tempo.
Por outro lado, para muitos de nós, existe hoje a sensação de que estamos presos a um game exaustivo que não escolhemos. Ele pressupõe que nossos comportamentos possam ser alterados com bugigangas digitais brilhantes, competição artificial constante e prêmios sem sentido. Ainda mais insultante, o jogo age como se existisse para nosso benefício – prometendo nos deixar mais em forma, mais felizes e mais produtivos – quando, na realidade, serve aos interesses comerciais e empresariais de seus criadores.
As metáforas podem ser uma maneira imperfeita, mas necessária, de dar sentido ao mundo. Hoje em dia, não é incomum ouvir falar em “subir de nível”, ter uma mentalidade de “modo Deus”, “ganhar XP” e aumentar (ou diminuir) as “configurações de dificuldade” da vida. Contudo, a metáfora que mais ressoa para mim – aquela que parece capturar perfeitamente nosso predicamento atual – é a do “non-player character” (NPC), “personagem não jogável” em português.
NPCs são as “máquinas de Sísifo” dos videogames, programados para seguir um roteiro definido para sempre e nunca questionar ou desviar. Eles são jogadores de segundo plano na história de outra pessoa, geralmente encarregados de promover um enredo específico ou realizar algum trabalho manual.
Chamar alguém de NPC na vida real é acusá-lo de apenas seguir os movimentos, não pensar por si, não ser capaz de tomar suas próprias decisões. Para mim, esse é o verdadeiro resultado da gamificação. É a aquiescência fingindo ser capacitação, retirando exatamente o que torna os jogos únicos – um senso de agência – para, depois, tentar mascarar isso com substitutos grosseiros de realização.
Então, o que podemos fazer? Dado o alcance e a abrangência da gamificação, criticá-la, neste momento, pode soar um pouco inútil, como se fosse uma crítica ao capitalismo. No entanto, suas próprias promessas fracassadas podem indicar o caminho para uma possível trégua.
Se a gamificação do mundo transformou nossas vidas na versão ruim de um jogo, talvez seja o momento perfeito para redescobrirmos o que torna os videogames verdadeiramente ótimos. Quem sabe, para usar uma ideia de McGonigal, todos nós devêssemos começar a jogar games melhores.
Bryan Gardiner é colaborador e repórter em Oakland, Califórnia.