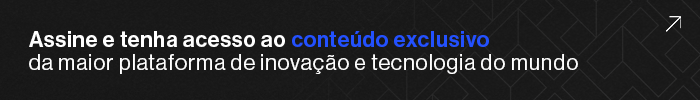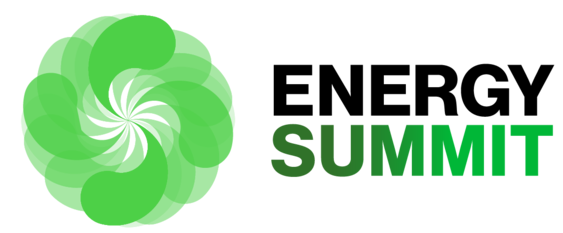A terra ao redor do lago Naivasha, uma bacia rasa de água doce no centro-sul do Quênia, não parece querer ficar parada.
Cinzas do vulcão Longonot, que entrou em erupção tão recentemente quanto a década de 1860, permanecem no solo. Cavernas de obsidiana e torres de pedras recortadas dominam o vapor que jorra de fissuras no solo e paira sobre poças de água fervente, produzida por magma que, em algumas áreas, fica apenas algumas milhas abaixo da superfície.
É uma paisagem nascida de processos geológicos poderosos, há cerca de 25 milhões de anos, quando as placas tectônicas Núbia e Somali se separaram. Essa ruptura abriu uma depressão na terra com cerca de 6 mil quilômetros de extensão, do leste da África até o Oriente Médio, para criar o que hoje é chamado de Grande Vale do Rift (ou Vale da Fenda, como também é conhecido).
Essa volatilidade impregna a terra de um vasto potencial, em grande parte inexplorado. A área, a algumas horas de carro de Nairóbi, abriga cinco usinas de energia geotérmica que aproveitam as nuvens de vapor para gerar cerca de um quarto da eletricidade do Quênia. Mas parte da energia desse processo escapa para a atmosfera, enquanto uma quantidade maior ainda permanece no subsolo por falta de demanda.
Foi isso que trouxe a Octavia Carbon até aqui.
Em junho, logo ao norte do lago, na pequena, mas estrategicamente localizada, cidade de Gilgil, a startup começou a conduzir um teste de alto risco. Ela está aproveitando parte desse excesso de energia para alimentar quatro protótipos de uma máquina que promete remover dióxido de carbono do ar de uma maneira que a empresa diz ser eficiente, acessível e, crucialmente, escalável.
No curto prazo, o impacto será pequeno. A capacidade inicial de cada dispositivo é de apenas 60 toneladas de CO₂ por ano, mas o objetivo imediato é simplesmente demonstrar que a remoção de carbono aqui é possível. A visão de longo prazo é muito mais ambiciosa: provar que a captura direta de ar (Direct Air Capture, DAC, na sigla em inglês), como o processo é conhecido, pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar o mundo a impedir que as temperaturas subam para níveis cada vez mais perigosos.
“Acreditamos que estamos fazendo o que podemos, aqui no Quênia, para enfrentar as mudanças climáticas e liderar o esforço para posicionar o país como uma vanguarda climática”, disse-me Specioser Mutheu, responsável pela comunicação da Octavia, quando visitei o país no ano passado.
O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas (Intergovernmental Panel on Climate Change, ou IPCC, em inglês) afirmou que, para evitar que o mundo aqueça mais de 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais, o limite estabelecido no Acordo de Paris, ou mesmo os mais realistas, porém ainda difíceis, 2 °C, será necessário reduzir significativamente as futuras emissões de combustíveis fósseis e retirar da atmosfera bilhões de toneladas de carbono que já foram liberadas.
Alguns argumentam que a captura direta de ar, que usa processos mecânicos e químicos para sugar dióxido de carbono do ar e armazená-lo em uma forma estável, geralmente no subsolo, é a melhor maneira de fazer isso. É uma tecnologia muito promissora, oferecendo a possibilidade de que a engenhosidade e a inovação humanas possam nos tirar do mesmo problema que o desenvolvimento causou em primeiro lugar.
No ano passado, a maior planta de DAC do mundo, a Mammoth, entrou em operação na Islândia, oferecendo a capacidade eventual de remover até 36.000 toneladas de CO₂ por ano, equivalente às emissões de 7.600 carros movidos a gasolina, aproximadamente. A ideia é que plantas como esta removam e armazenem permanentemente o gás, e criem créditos de carbono que podem ser comprados por corporações, governos e produtores industriais locais, o que, em conjunto, ajudará a impedir que o mundo experimente os efeitos mais perigosos das mudanças climáticas.
Agora, a Octavia e um número crescente de empresas, políticos e investidores da África, dos EUA e da Europa estão apostando que o ambiente único do Quênia guarda as chaves para alcançar esse objetivo elevado, e é por isso que estão impulsionando uma visão abrangente para transformar o Grande Vale do Rift no “Grande Vale do Carbono”. E eles esperam fazer isso de uma maneira que proporcione um verdadeiro impulso econômico para o país, ao mesmo tempo em que respeite os direitos dos povos indígenas que vivem nesta terra. Se conseguirem, o projeto poderia não só dar um impulso necessário à indústria de DAC, como também fornecer uma prova de conceito em todo o sul global, que é particularmente vulnerável aos estragos das mudanças climáticas, apesar de ter muito pouca responsabilidade por eles.
Mas a DAC também é uma tecnologia controversa, não comprovada em escala e absurdamente cara para operar. Em maio, um veículo de notícias islandês publicou uma investigação sobre a Climeworks, que opera a planta Mammoth, constatando que ela nem sequer retirou dióxido de carbono suficiente para compensar suas próprias emissões, quanto mais as emissões de outras empresas.
Críticos também argumentam que a eletricidade necessária pode ser mais bem usada para limpar nossos sistemas de transporte, aquecer nossas casas e alimentar outras indústrias que ainda dependem em grande parte de combustíveis fósseis. Além disso, eles dizem que depender da DAC pode dar aos poluidores uma desculpa para adiar indefinidamente a transição para as fontes renováveis. Complicando ainda mais esse quadro, há a redução da demanda por parte de governos e corporações que seriam os principais compradores da DAC, o que deixou alguns especialistas questionando se a indústria sequer vai sobreviver.
“A remoção de carbono é uma tecnologia que parece estar sempre prestes a decolar, mas nunca decola”, diz Fadhel Kaboub, um economista tunisiano, defensor de uma transição verde equitativa. “Você precisa de bilhões de dólares de investimento, mas isso não está entregando e não vai entregar tão cedo. Então, por que colocamos todo o futuro do planeta nas mãos de poucas pessoas e de uma tecnologia que não entrega?”
Somadas às preocupações sobre a viabilidade e a sabedoria da DAC, há uma longa história de desconfiança por parte do povo Maasai, que chama o Grande Vale do Rift de lar há gerações, mas foi deslocado em ondas por empresas de energia que chegaram para explorar as reservas geotérmicas da Terra. E muitos dos que permanecem nem sequer têm acesso à eletricidade gerada por essas usinas.
É uma paisagem imensamente complicada de navegar. No entanto, se o projeto de fato conseguir avançar, Benjamin Sovacool, pesquisador de políticas de energia e diretor do Instituto de Sustentabilidade Global da Universidade de Boston, vê um potencial imenso para países que foram historicamente marginalizados da política climática e do investimento em energia verde. Embora seja cético em relação à DAC como uma solução climática de curto prazo, ele diz que essas nações ainda poderiam ver grandes benefícios do que poderia ser uma indústria de vários trilhões de dólares.
“[De] todas as tecnologias que temos disponíveis para combater as mudanças climáticas, a ideia de revertê-las sugando CO₂ do ar e armazenando-o é realmente atraente. É algo que até uma pessoa comum simplesmente entende”, diz Sovacool. “Se conseguirmos fazer DAC em escala, isso pode ser a próxima grande transição energética.”
Mas, primeiro, é claro, o Grande Vale do Carbono precisa de fato entregar.
Desafiando a dinâmica de poder
O “Grande Vale do Carbono” é tanto uma visão ampla para a região quanto uma empresa fundada para conduzir essa visão à realidade.
Bilha Ndirangu, engenheira elétrica pelo MIT, de 42 anos, que cresceu em Nairóbi, há muito tempo se preocupa com os impactos das mudanças climáticas no Quênia. Mas ela não quer que o país seja uma mera vítima do aumento das temperaturas. Bilha espera vê-lo se tornar uma fonte de soluções climáticas. Assim, em 2021, Ndirangu cofundou a Jacob’s Ladder Africa, uma organização sem fins lucrativos, com o objetivo de preparar trabalhadores africanos para as indústrias verdes.
Ela também começou a colaborar com o empreendedor queniano James Irungu Mwangi, CEO da Africa Climate Ventures, que é uma empresa de investimentos focada em construir e acelerar negócios climaticamente inteligentes. Ele vinha trabalhando em uma ideia que dialogava com a crença compartilhada de ambos no potencial da vasta capacidade geotérmica do país. O plano era encontrar compradores para a energia geotérmica excedente do Quênia a fim de dar o pontapé inicial no desenvolvimento de mais energia renovável. Um setor faminto por energia e climaticamente positivo se destacou: a captura direta de dióxido de carbono do ar.
O Grande Vale do Rift era a chave para essa visão. A ideia era que ele poderia fornecer a energia barata necessária para viabilizar uma DAC acessível em escala, ao mesmo tempo em que ofereceria uma geologia ideal para armazenar carbono de forma eficaz em profundidade no subsolo depois que fosse extraído do ar. Com quase 90% da rede elétrica do país já alimentada por energia renovável, a DAC não estaria desviando energia de outras indústrias que precisam dela. Em vez disso, atraí-la para o Quênia poderia dar o impulso necessário para que os provedores de energia ampliassem sua infraestrutura e expandissem a rede, idealmente conectando cerca de 25% das pessoas no país que não têm eletricidade e reduzindo cenários em que a energia precisa ser racionada.
“Esse impulso por energia renovável e pela descarbonização das indústrias está nos oferecendo uma oportunidade do tipo que acontece uma vez na vida”, Ndirangu me diz.
Assim, em 2023, a dupla fundou a Great Carbon Valley, uma empresa de desenvolvimento de projetos cuja missão é atrair empresas de DAC para a região, junto com outras indústrias de alto consumo energético que buscam energia renovável.
Ela já trouxe organizações de alto perfil, como a startup belga de DAC, Sirona Technologies, a empresa francesa, também de DAC, Yama, e a Climeworks, empresa suíça que opera a Mammoth e outra planta de DAC, na Islândia (que esteve na lista de 10 Tecnologias Inovadoras da MIT Technology Review, em 2022, e na lista de Empresas de Tecnologia Climática para Observar, em 2023). Todas estão planejando lançar projetos-piloto no Quênia nos próximos anos, com a Climeworks anunciando planos de concluir sua planta queniana de DAC até 2028. A GCV também fez parceria com a Cella, uma empresa americana de armazenamento de carbono que trabalha com a Octavia, e está viabilizando licenças para a empresa islandesa Carbfix, que injeta o carbono proveniente das instalações de DAC da Climeworks.
“As mudanças climáticas estão impactando de forma desproporcional esta parte do mundo, mas também estão mudando as regras do jogo em todo o planeta”, disse-me Corey Pattison, CEO e cofundador da Cella, explicando o apelo do conceito de Mwangi e Ndirangu. “Esta também é uma oportunidade de ser empreendedor e criativo no nosso pensamento, porque existem todos esses ativos que lugares como o Quênia têm.”
O país não apenas pode oferecer energia renovável barata e abundante, como apoiadores do DAC queniano esperam que a força de trabalho local, jovem e instruída, possa fornecer os engenheiros e cientistas necessários para expandir essa infraestrutura. Em troca, o negócio poderia abrir oportunidades para os cerca de 6 milhões de jovens do país que estão desempregados ou subempregados.
“Não é uma indústria pontual”, diz Ndirangu, destacando sua fé na ideia de que empregos virão da industrialização verde. Serão necessários engenheiros para monitorar as instalações de DAC, e a demanda adicional por energia renovável criará empregos no setor de energia, junto com serviços relacionados, como água e hotelaria.
“Você está desenvolvendo toda uma gama de infraestrutura para tornar essa indústria possível”, ela acrescenta. “Ela não é apenas boa para a indústria, mas também para o país.”
A chance de resolver uma “questão do mundo real”
Em junho do ano passado, caminhei por uma trilha de terra até a sede da Octavia Carbon, logo após a Eastern Bypass Road de Nairóbi, na extremidade mais distante da cidade.
Os funcionários que conheci na minha visita exalavam o tipo de otimismo sem limites que é comum em startups em estágio inicial. “As pessoas costumavam escrever artigos acadêmicos sobre o fato de que nenhum ser humano jamais conseguiria correr uma maratona em menos de duas horas”, disse-me naquele dia Martin Freimüller, CEO da Octavia. O maratonista queniano Eliud Kipchoge quebrou essa barreira em uma corrida em 2019. Um mural dele aparece com destaque na parede, junto com o slogan do atleta, “Nenhum ser humano é limitado”.
“É impossível, até o Quênia fazer”, acrescentou Freimüller.
Embora não seja um parceiro oficial do empreendimento Great Carbon Valley de Ndirangu, a Octavia se alinha com a visão mais ampla, ele me disse. A empresa começou em 2022, quando Freimüller, um consultor austríaco de desenvolvimento, conheceu Duncan Kariuki, um graduado em engenharia pela Universidade de Nairóbi, no OpenAir Collective, um fórum online dedicado à remoção de carbono. Kariuki apresentou Freimüller a seus colegas Fiona Mugambi e Mike Bwondera e os quatro começaram a trabalhar em um protótipo de DAC, primeiro em um espaço de laboratório emprestado pela universidade e, mais tarde, em um apartamento. Não demorou para que vizinhos reclamassem do barulho e, em seis meses, a operação se mudou para seu armazém atual.
Nesse mesmo ano, eles anunciaram seu primeiro protótipo, carinhosamente chamado de Thursday, em referência ao dia em que foi revelado em um evento da Nairobi Climate Network. Logo, a Octavia estava exibindo sua tecnologia para visitantes de alto perfil, incluindo o rei Charles III e a embaixadora do presidente Joe Biden no Quênia, Meg Whitman.
Três anos depois, a equipe tem mais de 40 engenheiros e construiu sua 12ª unidade de DAC: um cilindro de metal do tamanho aproximado de uma grande máquina de lavar, contendo um filtro químico que usa uma amina, um composto orgânico derivado da amônia. (A Octavia se recusou a fornecer mais detalhes sobre a disposição do filtro dentro da máquina porque a empresa está aguardando a aprovação de uma patente para o projeto.)
Hannah Wanjau, uma engenheira da empresa, explicou como isso funciona: ventiladores puxam ar do lado de fora através do filtro, fazendo com que o dióxido de carbono, que é ácido, reaja com a amina básica e forme um sal de carbonato. Quando essa mistura é aquecida dentro de um vácuo a uma temperatura entre 80 ºC e 100 °C, ele é liberado, agora como um gás, e coletado em uma câmara especial, enquanto a amina pode ser reutilizada para a próxima rodada de captura de carbono.
O método de absorção por amina tem sido usado em outras plantas de DAC ao redor do mundo, incluindo as operadas pela Climeworks, mas o projeto da Octavia se destaca em várias frentes fundamentais. Wanjau explicou que sua tecnologia é adaptada para se adequar ao clima local; a empresa ajustou o tempo de absorção e a temperatura para a liberação de dióxido de carbono, tornando-a um modelo potencial para outros países nos trópicos.
E então há sua fonte de energia: o dispositivo opera com mais de 80% dela térmica, que, em campo, consistirá na energia geotérmica excedente que as usinas não convertem em eletricidade. Ela normalmente é liberada na atmosfera, mas, em vez disso, será canalizada para as máquinas da Octavia. Além disso, o design modular do dispositivo pode caber dentro de um contêiner de transporte, permitindo que a empresa implante facilmente dezenas dessas unidades quando houver demanda, Mutheu me disse.
Essa tecnologia está sendo testada em campo em Gilgil, onde Mutheu me disse que a empresa está “continuando a capturar e condicionar CO₂ como parte de nossas operações contínuas e ciclos de testes”. (Ela se recusou a fornecer dados ou resultados específicos nesta etapa.)
Uma vez que ele é capturado, será aquecido e pressurizado. Em seguida, será bombeado para uma instalação de armazenamento próxima operada pela Cella, onde a empresa injetará o gás em fissuras no subsolo. A geologia especial da região novamente oferece uma vantagem: grande parte da rocha encontrada no subsolo aqui é basalto, um mineral vulcânico que contém altas concentrações de íons de cálcio e magnésio. Eles reagem com o dióxido de carbono para formar substâncias como calcita, dolomita e magnesita, aprisionando os átomos de carbono na forma de minerais sólidos.
Esse processo é mais durável do que outras formas de armazenamento, tornando-o potencialmente mais atraente para compradores de créditos de carbono, diz Pattison, o CEO da Cella. Métodos de mitigação de carbono não geológicos, como programas de substituição de fogões ou soluções baseadas na natureza, como o plantio de árvores, foram recentemente abalados por revelações de fraude ou exagero. O dinheiro para o piloto da Cella, que prevê a injeção de 200 toneladas de CO₂ neste ano, veio principalmente do compromisso de mercado antecipado da Frontier, pelo qual um grupo de empresas, incluindo Stripe, Google, Shopify, Meta e outras, comprometeu-se coletivamente a gastar US$ 1 bilhão em remoção de carbono até 2030.
Esses projetos já abriram possibilidades para jovens quenianos como Wanjau. Ela me disse que não havia muitas oportunidades para aspirantes a engenheiros mecânicos como ela projetarem e testarem seus próprios dispositivos; muitos de seus colegas estavam trabalhando para empresas de construção ou de petróleo, ou estavam desempregados. Mas, quase imediatamente após a formatura, Wanjau começou a trabalhar na Octavia.
“Estou feliz por estar tentando resolver um problema que é uma questão do mundo real”, ela me disse. “Não são muitas as pessoas na África que têm a chance de fazer isso.”
Uma escalada difícil
Apesar do enorme entusiasmo de parceiros e investidores, o Grande Vale do Carbono enfrenta múltiplos desafios antes que a visão de Ndirangu e Mwangi possa ser plenamente realizada.
Desde o início, o empreendimento teve de lidar com “essa percepção de que fazer projetos na África é arriscado”, diz Ndirangu. Das dezenas de instalações de DAC planejadas ou existentes hoje, apenas um punhado está no Sul Global. De fato, a Octavia se descreveu como a primeira planta de DAC a estar localizada lá. “Até mesmo vender o Quênia como um destino para DAC foi um grande desafio”, ela diz.
Assim, Ndirangu ressaltou a experiência do Quênia no desenvolvimento de recursos geotérmicos, assim como o talento local em engenharia e um custo de mão de obra mais baixo. A GCV também se ofereceu para trabalhar com o governo queniano para ajudar as empresas a garantir as licenças adequadas para iniciar as obras o quanto antes.
Ndirangu diz que já viu “um apetite real” por parte de produtores de energia que querem expandir mais infraestrutura de energia renovável, mas, ao mesmo tempo, eles estão esperando por prova de demanda. Ela prevê que, uma vez que essa energia esteja disponível, muitas outras indústrias, de centros de dados a produtores de aço verde, amônia verde e combustíveis sustentáveis de aviação, vão considerar se estabelecer no Quênia, atraindo mais de uma dúzia de projetos para o vale nos próximos anos.
Mas eventos recentes podem reduzir a demanda, que alguns especialistas já temiam ser insuficiente. Governos do mundo todo estão recuando da ação climática, particularmente nos Estados Unidos. O governo Trump reduziu drasticamente o financiamento para o desenvolvimento relacionado às mudanças climáticas e à energia renovável. O Departamento de Energia parece pronto para encerrar uma subvenção de US$ 50 milhões para uma proposta de planta de DAC na Luisiana que teria sido operada parcialmente pela Climeworks e, em maio, não muito tempo depois desse anúncio, a empresa disse que estava cortando 22% de sua equipe.
Ao mesmo tempo, muitas empresas que provavelmente seriam compradoras de créditos de carbono, e que há alguns anos haviam se comprometido voluntariamente a reduzir ou eliminar suas emissões, estão discretamente recuando em seus compromissos. No longo prazo, especialistas alertam, há limites para a quantidade de remoção de carbono que as empresas jamais comprarão voluntariamente. Eles argumentam que, em última instância, os governos terão de pagar por isso, ou exigir que os poluidores o façam.
Agravando ainda mais todos esses desafios estão os custos. Críticos dizem que os investimentos em DAC são um desperdício de tempo e dinheiro em comparação com outras formas de remoção de carbono. Em meados de dezembro, os créditos de remoção de carbono no Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia, um dos maiores mercados de carbono do mundo, estavam precificados em cerca de 84 dólares (cerca de 450 reais) por tonelada. O preço médio por crédito de DAC, para comparação, é de quase 450 dólares (cerca de 2.400 reais). Processos naturais como o reflorestamento absorvem milhões de toneladas de carbono anualmente e são muito mais baratos, embora programas para aproveitá-los em créditos de carbono sejam assolados por suas próprias controvérsias. Em última análise, a DAC continua a operar em pequena escala, removendo apenas cerca de 10.000 toneladas métricas de CO₂ por ano.
Mesmo que os fornecedores consigam superar esses obstáculos, ainda há questões espinhosas vindas de dentro do Quênia. Grupos como a Power Shift Africa, um think tank sediado em Nairóbi que defende a ação climática no continente, têm chamado os créditos de carbono de “licenças para poluir” e os têm culpado por atrasar a mudança rumo à eletrificação.
“O objetivo final da [remoção de carbono] é que você possa dizer no fim: bem, na verdade podemos continuar com nossas emissões e simplesmente recapturá-las com essa tecnologia”, diz Kaboub, o economista tunisiano, que já trabalhou com a Power Shift Africa. “Então não há necessidade de acabar com os combustíveis fósseis, e é por isso que você obtém muito apoio de países e empresas de petróleo.”
Outro problema que ele enxerga não se limita à DAC, mas se estende à forma como o Quênia e outras nações africanas estão buscando seu objetivo de industrialização verde. Embora o presidente do Quênia, William Ruto, tenha buscado investimento financeiro internacional para transformar o Quênia em um polo de energia verde, as políticas de seu governo aprofundaram a dívida externa do país, que, em 2024, era equivalente a cerca de 30% do seu PIB. O desenvolvimento de energia geotérmica no Quênia muitas vezes foi financiado por empréstimos de instituições internacionais ou de outros governos. À medida que sua dívida aumentou, o país adotou medidas nacionais de austeridade que desencadearam protestos mortais.
O Quênia pode, de fato, ter vantagens sobre outros países, e os custos da DAC muito provavelmente vão cair com o tempo. Mas alguns especialistas, como Sovacool, da Universidade de Boston, não estão totalmente convencidos da ideia de que o Grande Vale do Carbono, ou qualquer empreendimento de DAC, possa mitigar significativamente as mudanças climáticas. A pesquisa de Sovacool constatou que, na melhor das hipóteses, a DAC estará pronta para ser implantada na escala necessária até meados do século, tarde demais para que seja uma solução climática viável. E isso se conseguir superar custos adicionais, como as perdas associadas à corrupção no setor de energia, que Sovacool e outros constataram ser um problema generalizado no Quênia.
No entanto, outros dentro da indústria de remoção de carbono permanecem mais otimistas quanto às perspectivas gerais da DAC e estão particularmente esperançosos de que o Quênia possa enfrentar alguns dos desafios que a tecnologia encontrou em outros lugares. O custo “não é a coisa mais importante”, diz Erin Burns, diretora executiva da Carbon180, uma organização sem fins lucrativos que defende a remoção e a reutilização de dióxido de carbono. “Há muitas coisas pelas quais pagamos.” Ela observa que governos no Japão, em Singapura, no Canadá, na Austrália, na União Europeia e em outros lugares estão todos considerando desenvolver mercados de conformidade para o carbono, embora os EUA estejam estagnados nesse aspecto.
O Great Carbon Valley, ela acredita, está pronto para se beneficiar desses desenvolvimentos. “É grande. É visionário”, diz Burns. “É preciso ter alguma ambição aqui. Isso não é algo como implantar uma tecnologia que já é amplamente implantada. E isso vem com um enorme potencial para grande oportunidade, grandes ganhos.”
De volta à terra
Mais do que qualquer fator externo, o futuro do Vale do Carbono talvez esteja mais intimamente entrelaçado com a terra inquieta sobre a qual está sendo construído, e com a comunidade que vive aqui há séculos.
Para o povo Maasai, pastores nômades que habitam extensões da África Oriental, incluindo o Quênia, esta terra ao redor do lago Naivasha é “ol-karia”, significando “ocre”, uma referência à argila vermelha brilhante encontrada em abundância.
Ao sul do lago fica o Parque Nacional Hell’s Gate (Portal do Inferno, em tradução livre), uma reserva natural de 26 milhas quadradas onde os cinco complexos de energia geotérmica da região, com um sexto em construção, operam sobre as numerosas saídas de vapor. A primeira usina geotérmica aqui entrou em operação em 1981, pela KenGen, uma empresa de eletricidade de propriedade majoritariamente estatal, e foi chamada de Olkaria.
Mas, por décadas, a maioria dos Maasai não teve acesso a essa eletricidade. E muitos deles foram forçados a deixar a terra em uma onda de despejos. Em 2014, a construção de um complexo geotérmico da KenGen expulsou mais de 2 mil pessoas e levou a uma série de queixas legais. Ao mesmo tempo, moradores que vivem perto de um complexo geotérmico diferente, de propriedade privada, a 50 milhas ao norte de Naivasha, reclamaram de poluição sonora e do ar; em março, um tribunal queniano revogou a licença de operação de uma das três usinas do projeto.
Nem a Octavia nem a Cella são abastecidas pela produção desses dois produtores geotérmicos, mas ativistas alertaram que danos ambientais e sociais semelhantes poderiam ressurgir se a demanda por nova infraestrutura geotérmica crescer no Quênia, demanda que poderia ser impulsionada pela DAC.
Ndirangu diz que acredita que algumas das queixas sobre deslocamento são “exageradas”, mas, ainda assim, reconhece a necessidade de um engajamento comunitário mais forte, como também faz a Octavia. No longo prazo, Ndirangu diz, ela planeja oferecer capacitação profissional a moradores que vivem perto das áreas afetadas e integrá-los à indústria, embora ela também diga que esses planos precisam ser realistas. “Você não quer criar a expectativa errada de que vai contratar todos da comunidade”, diz ela.
Isso é parte do problema para ativistas Maasai como Agnes Koilel, uma professora que vive perto do campo geotérmico de Olkaria. Apesar de promessas passadas de emprego nas usinas, os trabalhos oferecidos são cargos de menor remuneração, em limpeza ou segurança. “O povo Maasai não está [tão] empregado quanto eles pensam”, diz ela.
A DAC é uma indústria pequena e não consegue fazer tudo. Mas, se ela vai se tornar tão grande quanto Ndirangu, Freimüller e outros defensores do Great Carbon Valley esperam que ela seja, criando empregos e impulsionando a industrialização verde do Quênia, comunidades como a de Koilel estarão entre as mais diretamente afetadas, assim como são pela mudança climática.
Quando perguntei a Koilel o que ela achava do desenvolvimento da DAC perto de sua casa, ela me disse que nunca tinha ouvido falar da ideia do vale, nem da remoção de carbono em geral. Ela não era necessariamente contra o desenvolvimento da energia geotérmica por princípio, nem se opunha a qualquer uma das indústrias que poderiam levá-la a se expandir. Ela só quer ver alguns benefícios, como um centro de saúde para sua comunidade. Ela quer reverter os despejos que empurraram seus vizinhos para fora de suas terras. E ela quer eletricidade, do mesmo tipo que abasteceria os ventiladores e as bombas de futuros polos de DAC.
A energia “é gerada a partir dessas comunidades”, disse Koilel. “Mas elas mesmas não têm essa luz.”