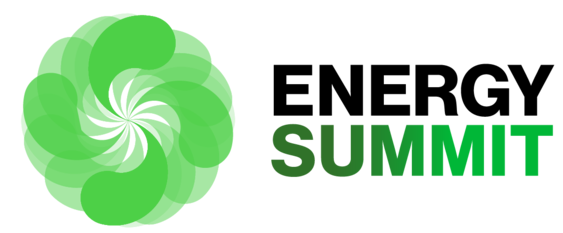Oferecido por
Uma ferramenta criada por uma equipe do Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) utiliza algoritmos para predizer o câncer de mama. Mas, além disso, o modelo de deep learning foi treinado em uma base de dados que torna essa análise mais equitativa quando comparada a outros trabalhos: é esperado que a IA tenha a mesma acurácia preditiva para mulheres brancas e negras.
O projeto, divulgado em 2019, foi desenvolvido a partir de mamografias e achados de mais de 60 mil mulheres atendidas no Hospital-geral de Massachusetts (MGH). O modelo aprendeu a identificar padrões sutis no tecido mamário que precedem o surgimento de tumores malignos anos antes de sua confirmação.
Ferramentas anteriores, que usaram informações de populações majoritariamente caucasianas, deixavam de contemplar uma população de risco. No caso do câncer de mama, nos Estados Unidos, constatou-se que mulheres afro-americanas têm uma porcentagem 42% maior de morrer em decorrência da doença, de acordo com o American College of Radiology (ACR) e a Society of Breast Imaging (SBI).
O câncer de mama é uma das doenças que evidenciam o impacto da raça na saúde, mas não é a única, e iniciativas que englobam esse contexto no desenvolvimento científico ainda são poucas. No caso das políticas públicas, o cenário é semelhante. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que a população autodeclarada negra no Brasil representava 56,1% dos brasileiros em 2021. Apesar de ser maioria, o grupo é o que tem piores indicadores de renda, moradia, violência e saúde.
Foi instituída no país, em 2009, uma política que visa a promover equidade, garantir o acesso da população negra aos serviços de saúde e detalhar as responsabilidades dos governos federal, estadual e municipal no enfrentamento ao racismo no Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), como foi chamada, fatores como mortalidade materna e infantil, prevalência de doenças crônicas e infecciosas, altos índices de violência e precocidade dos óbitos estão diretamente interligados ao racismo institucional no sistema.
A anemia falciforme, caracterizada por uma alteração na hemoglobina, é um dos exemplos mais emblemáticos de doenças que são mais comuns em pessoas negras e que, durante muitos anos, deixaram de ser uma prioridade de saúde. No campo das doenças raras, a neuromielite óptica (NMOSD), uma doença autoimune que ataca o sistema central, apresenta maiores taxas de prevalência e incidência em mulheres e em pessoas não-brancas, de descendência africana e asiática. Apesar de causar sintomas graves, como perda da visão e paralisia, no Brasil, ainda há carência no acesso a tecnologias para o diagnóstico e para o tratamento da NMOSD.
Em entrevista exclusiva à MIT Technology Review, a pesquisadora Emanuelle Góes avalia que, do ponto de vista das políticas públicas de saúde, existe uma desatenção geral a doenças que ocorrem com maior frequência na população negra. Quanto mais elevado o nível de complexidade do diagnóstico e do tratamento, como no caso do câncer e de doenças raras, maior o prejuízo na jornada do paciente.
Emanuelle é pesquisadora de pós-doutorado do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) na Bahia. Atualmente, a profissional pesquisa temáticas ligadas ao racismo e aborto, além de atuar em estudos sobre desigualdades raciais na maternidade, violência obstétrica e câncer de mama e do colo do útero.
“Toda demora vai gerar uma maior chance de adoecimento e morte. A chance de sobrevida é muito menor para as mulheres negras – falando do que eu estudo [câncer] – do que para as mulheres brancas, e isso está associado a esse percurso da procura do diagnóstico e do início do tratamento. Penso que isso também se adeque a doenças raras, porque você precisa de muitos insumos, muitas coisas a serem ofertadas para garantir o diagnóstico desse tipo de doença”, analisa.
A pesquisadora lança, ainda, um olhar sobre as questões de gênero e impactos nos indicadores de saúde de mulheres negras no país. Segundo Emanuelle, somente uma leitura interseccional permite compreender maneiras de superar o racismo institucional e garantir a efetividade das políticas públicas para esse grupo. “O gênero tem uma dinâmica que interage com a raça. Vivemos em uma sociedade racista e patriarcal”, explica.
Embora a tecnologia possa ser uma grande aliada no combate a iniquidades, como no caso da diversificação de dados no desenvolvimento de modelos de IA, Emanuelle chama a atenção para a necessidade de democratizar o uso de ferramentas tecnológicas, sobretudo em regiões mais pobres do país, para atender a gestores e à própria população que está na ponta. “É preciso também saber até que ponto a tecnologia é democrática e alcança todas as pessoas para depois dar esse passo, senão vamos avançando e deixando as mesmas pessoas para trás”, afirma.
TR: De que maneiras o racismo impacta a saúde de pessoas negras no Brasil?
Emanuelle Góes: Racismo é um determinante social, então, ele vai impactar o processo da vida da pessoa. O nascer, o viver, o adoecer e morrer. Vai estar presente em todos esses ciclos de vida das pessoas negras, das pessoas indígenas. A escravidão fundou esse país. É um pressuposto originário e, por isso, ainda vivemos sob essa égide. Estamos criando estratégias para sobreviver, para mudar a nossa história enquanto pessoas negras. Mas nós ainda não conseguimos fazer uma outra história do país, então, obviamente, vamos sofrer muitas consequências.
TR: Como o racismo se manifesta, na prática, no sistema de saúde?
Emanuelle Góes: Quando olhamos para o serviço, temos o racismo atravessando todo o sistema de saúde, desde a porta de entrada. E, pensando também nos trabalhadores da saúde, desde quem está na portaria de um hospital e quem está na recepção, todos esses trabalhadores e trabalhadoras atuam e trabalham a partir do mecanismo do racismo institucional. Vamos ter o racismo e o viés racial implícito, o racismo institucional, a discriminação direta, a discriminação implícita nos diversos códigos que o racismo tem para se manifestar.
TR: O gênero, nessa mesma população, é também um fator de iniquidade?
Emanuelle Góes: O gênero tem uma dinâmica que interage com a raça. Vivemos em uma sociedade machista e patriarcal. A partir desse lugar, vamos pensar como essa dinâmica vai atingir corpos negros. Como exemplo, quero trazer a maternidade. As mulheres fazem a agenda pelo direito ao aborto, obviamente, pela autonomia dos nossos corpos. Mas as mulheres brancas fazem isso também porque elas são empurradas para a maternidade. Nós [mulheres negras] somos empurradas para a esterilização, nós somos empurradas para a não maternidade. Há essa desvinculação das mulheres negras da maternidade. Só uma leitura interseccional permite que se veja isso. Se fizermos uma leitura universal de raça sem trazer gênero e de gênero sem trazer raça, não conseguimos pensar dessa forma.
TR: Na sua visão, doenças mais comuns em pessoas negras podem receber menos atenção?
Emanuelle Góes: Eu não tenho dúvida de que, quando são doenças que ocorrem mais na população negra, independente da sua origem, vamos ter uma atenção menor, uma desatenção ou uma falta de iniciativa, de política. Vamos observar, por exemplo, o caso emblemático da doença falciforme, que tem maior prevalência em negros. Sabemos que ela foi descoberta há mais de 100 anos, mas ela vai começar a ter uma iniciativa de política pública, uma iniciativa de atenção direcionada, muito recentemente. Também é racismo institucional quando se deixa de fazer política para aquele público que está morrendo, aquele público que adoece.
TR: Esse cenário se agrava se o diagnóstico e o tratamento exigirem um nível de complexidade mais elevado, como no caso de uma doença rara?
Emanuelle Góes: Olhando para a área que eu estudo, que é a violência obstétrica e também desigualdades no tratamento câncer de mama e de colo do útero, o estudo sobre o câncer fala muito disso. Vamos observar que, nos Estados Unidos, as mulheres brancas têm maior incidência de câncer de mama, mas são as mulheres negras que morrem mais, que têm maior taxa de mortalidade. Por quê? Porque é nesse lapso do diagnóstico que as mulheres negras não alcançam tratamento. No caso daqui, vamos ter a decisão profissional na condução daquele cuidado das mulheres, no diagnóstico, no exame. Toda demora vai gerar uma maior chance de adoecimento e morte. A chance de sobrevida é muito menor para as mulheres negras – falando do que eu estudo – do que para as mulheres brancas, e isso está associado a esse percurso da procura do diagnóstico e do início do tratamento. Penso que isso também se adeque a doenças raras, porque você precisa de muitos insumos, muitas coisas a serem ofertadas para garantir o diagnóstico desse tipo de doença.
TR: Gestores brasileiros estão munidos de dados suficientes para o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas adequadas?
Emanuelle Góes: O Brasil tem uma Política Nacional de Saúde Integral para a População Negra. Nós denunciamos, pensando no campo da epidemiologia, desde as décadas de 1990 e 2000. Pesquisas de Maria Inês Barbosa e Fernanda Lopes contribuíram para dar evidência no campo da epidemiologia, dos dados, dos estudos quantitativos. De lá para cá, fomos criando estratégias para pensar uma nova forma de atuar diante das distinções, da iniquidade. Ainda estamos muito distantes. Temos uma política que tem um plano de operação. Esse plano diz quais são as tarefas dos governos federal, estadual e dos municípios diante do que se refere a dar atenção para a população negra e pensando no enfrentamento, sobretudo, ao racismo institucional.
TR: Como a tecnologia pode contribuir no caminho pela equidade na saúde?
Emanuelle Góes: A tecnologia pode ser fundamental daqui para o futuro, mas precisamos resolver a questão dos recursos necessários para que você consiga usá-la. Vou dar o exemplo da telemedicina, que tem sido muito falada. Não adianta implementar a saúde digital para cobrir lacunas quando a tecnologia é uma barreira para a população — sobretudo a população negra do Norte e do Nordeste do Brasil. Sabemos da dificuldade que é manter a internet funcionando em algumas regiões. É preciso também saber até que ponto a tecnologia é democrática e alcança todas as pessoas para depois dar esse passo, senão vamos avançando e deixando as mesmas pessoas para trás.
TR: Quais devem ser os próximos passos para mudar o atual cenário?
Emanuelle Góes: A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra tem que funcionar de forma efetiva, alinhada ao orçamento e à transversalidade. É preciso ter orçamento na pasta e em outros órgãos que também têm que se comprometer, porque não é uma política que é implementada sozinha. Não há como superar o racismo sem diálogo com todo o SUS, e fazer diálogo com todo o SUS é fazer diálogo com todas as políticas. Isso é urgente. Precisamos ter medidas de curto e médio prazo para conseguir solucionar a questão, mas precisamos de recursos e de investimento, de financiamento e de pessoas.
TR: Há algo que você queira acrescentar sobre o tema?
Emanuelle Góes: Ainda precisamos, pensando na política, trabalhar a questão da formação profissional, da formação continuada, mas também a formação das pessoas antes de elas se tornarem profissionais. Precisamos repensar todo nosso repertório, a nossa referência de ensino, de prática, pensar uma ciência da saúde que seja antirracista. E pensar a ciência antirracista é pensar em vários nomes vistos como pais e mães das ciências, mas que são cientistas que defendiam o racismo científico, que eram eugenistas. As universidades precisam preparar os profissionais. É preciso que eles saiam prontos e prontas para assumir esse lugar do dono da mudança anticolonial, da mudança no enfrentamento ao racismo.