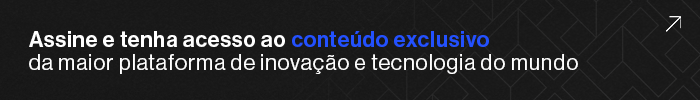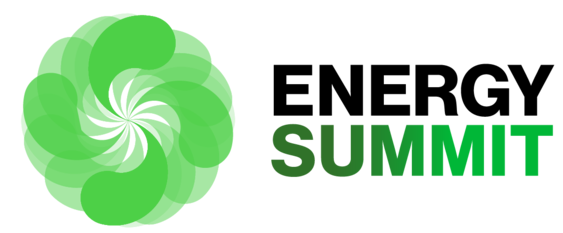Durante anos, na Orchard Care Homes, uma rede de 23 instalações de cuidado para pessoas com demência no norte da Inglaterra, Cheryl Baird viu enfermeiros preencherem a Abbey Pain Scale, uma metodologia observacional usada para avaliar a dor em pessoas que não conseguem se comunicar verbalmente. Baird, ex-enfermeira, que na época era diretora de qualidade da instituição, descreve o instrumento como “um exercício de marcar caixinhas, em que as pessoas não estavam realmente levando em conta os indicadores de dor”.
Como resultado, residentes agitados eram considerados portadores de problemas comportamentais, já que a escala nem sempre diferencia bem a dor de outros tipos de sofrimento ou angústia. Eles costumavam receber prescrições de sedativos psicotrópicos, enquanto a dor em si permanecia sem tratamento.
Então, em janeiro de 2021, a Orchard Care Homes iniciou um teste com o PainChek, um aplicativo de smartphone que escaneia o rosto de um residente em busca de micromovimentos musculares e usa Inteligência Artificial para gerar uma pontuação esperada de dor. Em poucas semanas, a unidade-piloto passou a registrar menos prescrições e tinha corredores mais tranquilos. “Vimos imediatamente os benefícios: facilidade de uso, precisão e identificação de dores que não teriam sido percebidas com a escala antiga”, lembra Baird.
Esse tipo de diagnóstico assistido por tecnologia aponta para uma tendência maior. Em casas de repouso, unidades neonatais e alas de UTI, pesquisadores estão em uma corrida para transformar a dor, o sinal vital mais subjetivo da medicina, em algo que uma câmera ou sensor possa pontuar com a mesma confiabilidade da pressão arterial. Esse movimento já produziu o PainChek, que foi aprovado por órgãos reguladores em três continentes e já registrou mais de 10 milhões de avaliações de dor. Outras startups começam a abrir caminhos semelhantes em ambientes de cuidado.
A forma como avaliamos a dor pode finalmente estar mudando, mas, quando algoritmos medem nosso sofrimento, isso altera a maneira como a compreendemos e tratamos?
A ciência já entende certos aspectos da dor. Sabemos que, quando você bate o dedão do pé, por exemplo, pequenos alarmes microscópicos chamados nociceptores enviam impulsos elétricos em direção à medula espinhal por “fios” expressos, entregando a primeira fisgada de dor, enquanto um comboio mais lento vem em seguida com o latejamento surdo que permanece. Na medula espinhal, o sinal encontra uma central de comutação microscópica que os cientistas chamam de portão. Inunde esse portão com toques amistosos, por exemplo, esfregando o machucado, ou deixe o cérebro devolver uma instrução com origem no pânico ou na calma, e o portão pode abafar ou amplificar a mensagem antes mesmo de você tomar consciência disso.
O portão pode tanto deixar os sinais de dor passarem quanto bloqueá-los, dependendo de outras atividades nervosas e de instruções vindas do cérebro. Só os sinais que conseguem ultrapassar esse portão sobem até o mapa sensorial do cérebro para ajudar a localizar o dano, enquanto outros se ramificam para centros emocionais que determinam o quanto aquilo parece ruim. Em questão de milissegundos, esses mesmos núcleos no cérebro disparam novas ordens de volta, liberando analgésicos naturais ou alimentando o alarme. Em outras palavras, a dor não é uma tradução direta do dano ou da sensação, mas uma negociação em tempo real entre o corpo e o cérebro.
Mas grande parte de como essa negociação se desenrola ainda é um mistério. Por exemplo: cientistas não conseguem prever o que faz alguém passar de uma lesão rotineira para uma hipersensibilidade que dura anos; a mudança molecular da dor aguda para a dor crônica ainda é amplamente desconhecida. A dor do membro fantasma é igualmente intrigante: cerca de dois terços das pessoas amputadas sentem agonia em uma parte do corpo que já não existe, mas teorias concorrentes, como remapeamento cortical, neuromas periféricos, descompasso do esquema corporal, não explicam por que elas sofrem enquanto o outro terço não sente nada.
A primeira tentativa séria de criar um sistema para quantificar a dor foi apresentada em 1921. Pacientes marcavam seu grau de dor como um ponto em uma linha em branco de 10 centímetros, e os clínicos mediam a distância em milímetros, convertendo a experiência vivida em uma escala de 0 a 100. Em 1975, o Questionário de Dor de McGill, do psicólogo Ronald Melzack, passou a oferecer 78 adjetivos como “ardente”, “em pontada” e “latejante”, de modo que a textura da dor pudesse se somar à intensidade, no prontuário. Nas últimas décadas, os hospitais acabaram se consolidando na Escala Numérica de 0 a 10.
Ainda assim, a dor é teimosamente subjetiva. O feedback do cérebro, na forma da sua reação, pode enviar instruções de volta pela medula espinhal, o que significa que expectativa e emoção podem alterar o quanto a mesma lesão dói. Em um ensaio, voluntários que acreditavam ter recebido um creme analgésico relataram um estímulo como 22% menos doloroso do que aqueles que sabiam que o creme era inativo, e uma imagem de ressonância magnética funcional de seus cérebros mostrou que a queda correspondia a uma redução na atividade das partes do cérebro que registram a dor, o que significa que eles de fato sentiram menos dor.
Além disso, a dor também pode ser afetada por uma série de fatores externos. Em um estudo, pesquisadores aplicaram o mesmo estímulo elétrico calibrado em voluntários da Itália, da Suécia e da Arábia Saudita, e as avaliações variaram de forma dramática. Mulheres italianas registraram as pontuações mais altas na escala de 0 a 10, enquanto participantes suecos e sauditas classificaram a mesma sensação de queimadura vários pontos abaixo, sugerindo que a cultura pode amplificar ou atenuar a intensidade sentida de uma mesma experiência.
Viés dentro do ambiente clínico pode gerar respostas diferentes até para a mesma pontuação de dor. Uma análise de 2024 sobre notas de alta hospitalar descobriu que as pontuações de mulheres eram registradas 10% menos frequentemente do que as de homens. Em um grande pronto-atendimento pediátrico, crianças negras com fraturas em membros tinham, aproximadamente, 39% menos chance de receber um analgésico opioide do que seus pares brancos não hispânicos, mesmo depois de os pesquisadores controlarem a pontuação de dor e outros fatores clínicos. Em conjunto, esses estudos deixam claro que um “8 em 10” nem sempre resulta na mesma reação ou tratamento. E muitos pacientes não conseguem relatar a própria dor. Por exemplo: uma revisão de estudos à beira do leito conclui que cerca de 70% dos pacientes em terapia intensiva apresentam dor não reconhecida ou subtratada, um problema que os autores associam à comunicação prejudicada por sedação ou intubação.
Essas questões levaram à busca por uma forma melhor e mais objetiva de entender e avaliar a dor. Os avanços em Inteligência Artificial trouxeram uma nova dimensão a essa busca.
Grupos de pesquisa estão perseguindo duas grandes rotas. A primeira “escuta” por baixo da pele. Eletrofisiologistas prendem redes de eletrodos em voluntários e buscam assinaturas neurais que sobem e descem conforme os estímulos são administrados. Um estudo de 2024 com uso de aprendizado de máquina (machine learning) relatou que um desses algoritmos conseguiu identificar, com mais de 80% de precisão, e usando apenas alguns minutos de eletroencefalografia (EEG) em estado de repouso, quais participantes sentiam dor crônica e quais eram participantes de controle sem dor. Outros pesquisadores combinam EEG com resposta galvânica da pele e variabilidade da frequência cardíaca, na expectativa de que uma “impressão digital da dor” multissinal forneça medições mais robustas.
Um exemplo desse método é o monitor de pacientes PMD-200, da Medasense, que usa ferramentas baseadas em IA para gerar pontuações de dor. O dispositivo utiliza padrões fisiológicos como frequência cardíaca, sudorese ou alterações de temperatura periférica como entrada e é voltado para pacientes cirúrgicos, com o objetivo de ajudar anestesiologistas a ajustar doses durante as operações. Em um estudo de 2022, com 75 pacientes submetidos a cirurgia abdominal de grande porte, o uso do monitor resultou em pontuações de dor autorreferidas mais baixas após a operação, uma mediana de 3 em 10, contra 5 em 10 no grupo de controle, sem aumento no uso de opioides. O dispositivo é autorizado pela Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos e está em uso nos por lá, na União Europeia, no Canadá e em outros lugares.
O segundo caminho é comportamental. Uma careta, uma postura tensa ou uma inspiração brusca se correlacionam com diferentes níveis de dor. Equipes de visão computacional alimentaram vídeos em alta velocidade de pacientes com expressões faciais em mudança em redes neurais treinadas no Face Action Coding System (FACS), introduzido no fim da década de 1970 com o objetivo de criar um sistema objetivo e universal para analisar essas expressões – é a Pedra de Roseta de 44 micromovimentos faciais. Em testes de laboratório, esses modelos conseguem sinalizar quadros que indicam dor dentro do conjunto de dados com mais de 90% de precisão, aproximando-se da consistência de avaliadores humanos especialistas. Abordagens semelhantes analisam postura e até fragmentos de frases em prontuários clínicos, usando processamento de linguagem natural, para identificar expressões como “enrolado com os joelhos no peito”, que muitas vezes se correlacionam com dor intensa.
O PainChek é um desses modelos comportamentais e funciona como um termômetro baseado em câmera, só que para a dor: um cuidador abre o aplicativo e segura o telefone a 30 centímetros do rosto da pessoa. Durante três segundos, uma rede neural procura nove micromovimentos específicos que pesquisas associaram de forma mais consistente à dor: o levantar do lábio superior, o franzir da sobrancelha, a tensão da bochecha e assim por diante. Em seguida, a tela exibe uma pontuação de 0 a 42. “Existe um catálogo de ‘códigos de unidades de ação’, expressões faciais comuns a todos os humanos. Nove delas estão associadas à dor”, explica Kreshnik Hoti, pesquisador sênior do PainChek e coinventor do dispositivo. Esse sistema é construído diretamente sobre a base do FACS. Depois da varredura, o app conduz o usuário por uma lista de verificação de respostas do tipo “sim ou não” sobre outros sinais, como gemidos, “proteção” de uma parte do corpo e distúrbios de sono, e armazena o resultado em um painel na nuvem, que pode mostrar tendências.
Vincular a varredura a uma lista de verificação preenchida por humanos foi, admite Hoti, uma escolha de design tardia. “Inicialmente, achávamos que a IA deveria automatizar tudo, mas agora vemos que o uso híbrido, IA em conjunto com o input humano, é nossa principal força”, diz ele. Auxiliares de enfermagem, e não enfermeiros, são os responsáveis pela maioria das avaliações, liberando os clínicos para agir com base nos dados, em vez de coletá-los.
PainChek foi aprovado pela Therapeutic Goods Administration da Austrália, em 2017, e um financiamento nacional para implementação em escala, vindo de Canberra, ajudou a incorporá-lo em centenas de casas de repouso no país. O sistema também recebeu autorização no Reino Unido, onde a expansão começou pouco antes de a covid-19 começar a se espalhar, e foi retomada à medida que os lockdowns foram sendo suspensos, no Canadá e na Nova Zelândia, que estão conduzindo programas-piloto. Nos Estados Unidos, a FDA concedeu recentemente ao PainChek a autorização De Novo, que se aplica a dispositivos médicos inéditos. Dados consolidados da empresa mostram “cerca de 25% de queda no uso de antipsicóticos e, na Escócia, uma redução de 42% nas quedas”, diz Hoti.
A Orchard Care Homes está entre as primeiras a adotar o sistema. Baird, então diretora de qualidade da instituição, lembra da rotina pré-IA que era feita, em grande medida, “para comprovar conformidade”, como ela diz.
O PainChek acrescentou um algoritmo a esse fluxo de trabalho, e a abordagem híbrida compensou. Um estudo interno da Orchard, com quatro casas de repouso, acompanhou mensalmente pontuações de dor, incidentes comportamentais e prescrições. Em poucas semanas, as prescrições de psicotrópicos caíram e o comportamento dos residentes se acalmou. Os efeitos em cascata foram além dos números da farmácia. Residentes que haviam pulado refeições por causa de dores dentárias não detectadas “voltaram a comer”, observa Baird, e “aqueles que estavam isolados por causa da dor começaram a socializar”.
Dentro das instalações da Orchard, uma mudança cultural está em andamento. Quando treinava novos funcionários, Baird comparava a dor “a medir pressão arterial ou oxigênio”, conta. “Nós não chutaríamos esses números, então por que chutar a dor?” A analogia funciona, mas conseguir adesão total ainda é um trabalho árduo. Algumas enfermeiras insistem que seu julgamento clínico é suficiente; outras rejeitam a ideia de mais um login e uma nova trilha de auditoria. “O setor tem sido lento para adotar tecnologia, mas isso está mudando”, diz Baird. Ajuda o fato de que aplicar a Abbey Pain Scale por completo leva 20 minutos, enquanto uma varredura com o PainChek e a lista de verificação consomem menos de cinco.
Engenheiros da PainChek agora estão adaptando o código para os pacientes mais jovens. O PainChek Infant tem como foco bebês com menos de um ano, cujas caretas surgem e desaparecem mais rapidamente do que as de adultos. O algoritmo, retreinado em rostos neonatais, detecta seis unidades de ação facial validadas com base no consagrado Baby Facial Action Coding System. O PainChek Infant está começando testes limitados na Austrália enquanto a empresa busca um caminho regulatório separado.
Céticos levantam sinais de alerta já conhecidos em relação a esses dispositivos. A IA de análise facial tem um histórico de viés relacionado a tom de pele, por exemplo. A análise facial também pode interpretar de forma equivocada caretas decorrentes de náusea ou medo. A ferramenta só é tão boa quanto as respostas de sim ou não que vêm depois da varredura; o registro descuidado de dados pode distorcer os resultados em qualquer direção. Os resultados carecem do contexto clínico e interpessoal mais amplo que um cuidador provavelmente terá ao interagir regularmente com pacientes individuais e entender seu histórico médico. Também é possível que clínicos acabem se submetendo demais ao algoritmo, passando a depender excessivamente de um julgamento externo e corroendo sua própria interpretação.
O PainChek é apenas uma parte de um esforço mais amplo para criar um sistema de novas tecnologias de mensuração da dor. Outras startups estão oferecendo faixas de EEG para dor neuropática, sensores de resposta galvânica da pele que sinalizam picos de dor em pacientes com câncer e até modelos de linguagem que vasculham anotações de enfermagem em busca de evidências de sofrimento oculto. Ainda assim, quantificar a dor com um dispositivo externo pode estar repleto de problemas escondidos, como vieses ou imprecisões, que só serão descobertos depois do uso prolongado.
Para Baird, porém, a questão é relativamente simples. “Vivo com dor crônica e tive muita dificuldade para fazer as pessoas acreditarem em mim. [O PainChek] teria feito uma diferença enorme”, diz ela. Se a Inteligência Artificial puder dar uma voz numérica a quem sofre em silêncio, e fizer com que os clínicos escutem, então acrescentar mais uma linha ao prontuário de sinais vitais pode valer o tempo de tela.