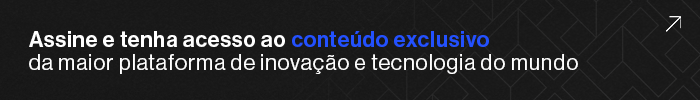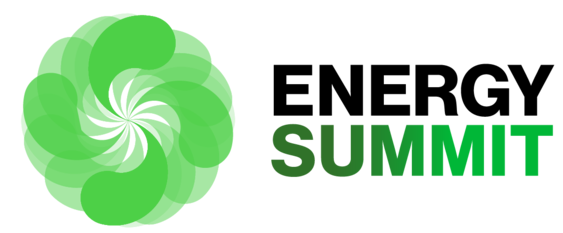Há algo podre na cidade de Nunapitchuk. Nos últimos anos, uma rachadura se formou no meio de uma casa. Esgoto tem se infiltrado na terra. O solo erodiu ao redor dos prédios, deixando-os empoleirados sobre precários montes de terra. Há poças eternas. E mofo. O chão pode parecer esponjoso, encharcado.
Esta pequena cidade no norte do Alasca está enfrentando uma consequência por vezes negligenciada das mudanças climáticas: o descongelamento do permafrost. E Nunapitchuk está longe de ser a única cidade do Ártico a se encontrar nessa situação.
O permafrost, que se estende sob cerca de 15% das terras do Hemisfério Norte, é definido como solo que permaneceu congelado por pelo menos dois anos. Historicamente, grande parte do permafrost do mundo permaneceu sólido e estável por muito mais tempo, permitindo que pessoas construíssem cidades inteiras sobre ele. Mas, à medida que o planeta aquece — um processo que ocorre mais rapidamente perto dos polos do que em latitudes mais temperadas —, o permafrost está descongelando e causando uma série de problemas de infraestrutura e ambientais.
Agora, cientistas acham que podem usar dados de satélite para investigar profundamente abaixo da superfície do solo e obter uma compreensão melhor de como o permafrost descongela e quais áreas podem ser mais severamente afetadas porque tinham mais gelo desde o início. Pistas do comportamento de curto prazo dessas áreas especialmente geladas, vistas do espaço, podem prenunciar problemas futuros.
Usando informações recolhidas tanto do espaço quanto no solo, eles estão trabalhando com comunidades afetadas para antecipar se a fundação de uma casa vai rachar — e se vale a pena consertar essa rachadura ou se é melhor recomeçar em uma nova casa no topo de uma colina estável. As previsões desses cientistas sobre o permafrost já estão ajudando comunidades como Nunapitchuk a tomar essas decisões difíceis.
Mas não são apenas as casas civis que estão em risco. Uma das principais agências de inteligência dos EUA, a National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), também está interessada em entender melhor o permafrost. Isso porque os mesmos problemas que afligem civis no extremo norte também afligem a infraestrutura militar, em casa e no exterior. A NGA é, essencialmente, uma organização cheia de espiões espaciais — pessoas que analisam dados de satélites de vigilância e lhes dão sentido para o aparato de segurança nacional do país.
Entender as potenciais instabilidades da infraestrutura militar do Alasca — que inclui estações de radar que monitoram mísseis balísticos intercontinentais, bem como bases militares e postos da Guarda Nacional — é fundamental para manter essas instalações em bom funcionamento e planejar seu fortalecimento futuro. Entender as potenciais fraquezas do permafrost que poderiam afetar a infraestrutura de países como Rússia e China, por sua vez, proporciona o que os insiders poderiam chamar de “consciência situacional” sobre concorrentes.
O trabalho para entender esse degelo só se tornará mais relevante, para civis e seus governos, à medida que o mundo continuar a aquecer.
O solo abaixo
Se você vive muito abaixo do Círculo Polar Ártico, provavelmente não pensa muito sobre permafrost. Mas ele afeta você, não importa onde você more.
Além das consequências de infraestrutura para cidades reais como Nunapitchuk, o permafrost em degelo contém carbono sequestrado — o dobro do que atualmente habita a atmosfera. À medida que o permafrost descongela, o processo pode liberar gases de efeito estufa na atmosfera. Essa liberação pode causar um ciclo de retroalimentação: temperaturas mais altas descongelam o permafrost, que libera gases de efeito estufa, o que aquece mais o ar, o que então — você entendeu.
Os próprios micróbios, junto com metais pesados anteriormente presos, também são perigosamente liberados.
Por muitos anos, as principais opções dos pesquisadores para entender algumas dessas mudanças de congelamento e degelo envolviam levantamentos práticos, em campo. Mas no fim dos anos 2000, Kevin Schaefer, atualmente cientista sênior no Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences da Universidade do Colorado Boulder, começou a investigar uma ideia menos trabalhosa: usar sistemas de radar a bordo de satélites para levantar dados sobre o solo abaixo.
Essa ideia se implantou em sua cabeça em 2009, quando ele viajou para um lugar chamado Toolik Lake, a sudoeste dos campos petrolíferos de Prudhoe Bay, no Alasca. Um dia, após horas perfurando amostras de testemunhos do solo para estudar o permafrost, ele estava relaxando em um abrigo Quonset, conversando com colegas. Eles começaram a discutir como radares baseados no espaço poderiam, potencialmente, detectar como a terra afunda e volta a se elevar conforme as temperaturas mudam.
Hã, ele pensou. Sim, o radar provavelmente poderia fazer isso.
Os cientistas chamam o solo logo acima do permafrost de camada ativa. A água nessa camada de solo contrai e se expande com as estações: durante o verão, o gelo que permeia o solo derrete e a consequente diminuição de volume faz o terreno afundar. Durante o inverno, a água congela e se expande, engrossando novamente a camada ativa. O radar pode ajudar a medir essa diferença de altura, que geralmente fica em torno de um a cinco centímetros.
Schaefer percebeu que podia usar o radar para medir a elevação do terreno no início e no fim do degelo. As ondas eletromagnéticas que retornam nesses dois momentos teriam percorrido distâncias ligeiramente diferentes. Essa diferença revelaria a pequena variação de elevação ao longo das estações e permitiria a ele estimar quanta água havia descongelado e recongelado na camada ativa e até que profundidade abaixo da superfície o degelo havia avançado.
Com o radar, Schaefer percebeu, os cientistas poderiam cobrir muito mais terreno, literalmente, com menos esforço e a um custo menor.
“Levou dois anos para descobrirmos como escrever um artigo sobre isso”, diz ele; ninguém jamais havia feito essas medições antes. Ele e colegas apresentaram a ideia na reunião de 2010 da American Geophysical Union e publicaram um artigo em 2012 detalhando o método, usando-o para estimar a espessura da camada ativa na North Slope do Alasca.
Ao fazerem isso, ajudaram a iniciar um novo subcampo que cresceu à medida que conjuntos de dados em larga escala começaram a se tornar disponíveis há cerca de 5 a 10 anos, diz Roger Michaelides, geofísico na Washington University em St. Louis e colaborador de Schaefer. Os esforços dos pesquisadores foram auxiliados pelo crescimento nos sistemas de radar espacial e por satélites menores e mais baratos.
Com a disponibilidade de conjuntos de dados globais (às vezes gratuitos, de satélites operados por governos como o Sentinel, da Agência Espacial Europeia) e de observações direcionadas de empresas comerciais como a Iceye, os estudos sobre permafrost estão passando de análises regionais sob medida para um monitoramento e uma previsão mais automatizados e em larga escala.
A visão remota
Simon Zwieback, especialista em geoespacial e meio ambiente na University of Alaska Fairbanks, vê em primeira mão as consequências do descongelamento do permafrost todos os dias. Seu escritório dá para um estacionamento da universidade, cujo canto está cercado para impedir que carros e pedestres caiam em uma dolina recém-formada. Aquela área de asfalto vinha afundando lentamente há mais de um ano, mas, ao longo de uma ou duas semanas nesta primavera, finalmente começou a colapsar para dentro.
Os novos métodos de pesquisa remota são uma versão em larga escala de Zwieback contemplando a vista de sua janela. Pesquisadores observam o solo e medem como sua altura muda à medida que o gelo descongela e volta a congelar. A abordagem pode cobrir grandes extensões de terra, mas envolve fazer suposições sobre o que está acontecendo abaixo da superfície — a saber, quanto gelo permeia o solo na camada ativa e no permafrost. Áreas em degelo com teor de gelo relativamente baixo poderiam imitar camadas mais finas com mais gelo. E é importante diferenciar as duas, já que mais gelo no permafrost significa mais potencial de instabilidade.
Para verificar se estão no caminho certo, cientistas historicamente precisaram ir a campo. Mas, há alguns anos, Zwieback começou a explorar uma forma de fazer estimativas melhores e mais profundas do teor de gelo usando os dados de sensoriamento remoto disponíveis. Encontrar uma maneira de fazer esse tipo de medição em larga escala era mais do que um exercício acadêmico: áreas do que ele chama de “excesso de gelo” são as mais propensas a causar instabilidade na superfície. “Para planejar nesses ambientes, nós realmente precisamos saber quanto gelo há, ou onde ficam essas localidades ricas em gelo”, diz ele.
Zwieback, que fez a graduação e a pós-graduação na Suíça e na Áustria, nem sempre se interessou tanto por permafrost, nem foi tão profundamente afetado por ele. Mas, em 2014, quando era doutorando em engenharia ambiental, juntou-se a uma campanha de campo ambiental na Sibéria, no delta do rio Lena, que se assemelha a um gigantesco pedaço de coral abrindo-se em leque para o Oceano Ártico. Zwieback estava perto de uma cidade chamada Tiksi, um dos assentamentos mais ao norte do mundo. É um posto militar e ponto de partida para expedições ao Polo Norte, com um avião abandonado perto do oceano. Seus prédios de concreto da era soviética às vezes levam o lugar à capa do subreddit r/UrbanHell.
Lá, Zwieback viu parte da costa colapsar, expondo gelo quase puro. Parecia uma geleira subterrânea, mas era permafrost. “Isso realmente teve um impacto indelével em mim”, diz ele.
Mais tarde, como doutorando em Zurique e pós-doutor no Canadá, ele usou suas habilidades com radar para entender as mudanças rápidas que a atividade do permafrost imprimia na paisagem.
E agora, com seu trabalho em Fairbanks e suas ideias sobre o uso do sensoriamento por radar, ele realizou trabalhos financiados pela NGA, que possui um portal aberto de dados do Ártico.
Em sua pesquisa no Ártico, Zwieback começou com a abordagem que fundamenta a maioria dos estudos de permafrost por radar: observar o afundamento e o soerguimento sazonais do terreno. “Mas isso é algo que acontece muito perto da superfície”, diz ele. “Isso realmente não nos diz sobre esses efeitos de desestabilização de longo prazo”, acrescenta.
Em verões mais quentes, pensou ele, surgiriam pistas sutis que poderiam indicar quanto gelo está enterrado mais profundamente.
Por exemplo, ele esperava que esses períodos mais quentes que a média exagerassem a quantidade de mudança observada na superfície, tornando mais fácil dizer quais áreas são ricas em gelo. Terrenos particularmente densos em gelo afundariam mais do que “deveriam” — um precursor de afundamentos maiores por vir.
O primeiro passo, então, foi medir diretamente o afundamento, como de costume. Mas, a partir daí, Zwieback desenvolveu um algoritmo para ingerir dados sobre o afundamento ao longo do tempo — conforme medido por radar — e outras informações ambientais, como as temperaturas em cada medição. Em seguida, ele criou um modelo digital do terreno que lhe permitiu ajustar a quantidade simulada de gelo no solo e determinar quando ela correspondia ao afundamento observado no mundo real. Com isso, os pesquisadores poderiam inferir a quantidade de gelo abaixo da superfície.
Depois, ele fez mapas desse gelo que poderiam, potencialmente, ser úteis para engenheiros — quer estivessem planejando um novo loteamento ou, como seus financiadores talvez estivessem, mantendo vigilância sobre um aeródromo militar.
“O que foi novo no meu trabalho foi olhar para esses períodos muito mais curtos e usá-los para entender aspectos específicos de todo esse sistema e, especificamente, quanto gelo há em profundidade”, diz Zwieback.
A NGA, que também financiou o trabalho de Schaefer, não respondeu a um pedido inicial de comentário, mas posteriormente forneceu feedback para verificação de fatos. Ela removeu de seu site um artigo sobre a bolsa de Zwieback e sua aplicação aos interesses da agência por volta da época em que a atual administração presidencial começou a proibir menções às mudanças climáticas em pesquisas federais. Mas a terra em degelo é uma preocupação premente.
Para começar, os EUA têm uma infraestrutura militar significativa no Alasca: o estado abriga seis bases militares e 49 postos da Guarda Nacional, além de 21 sítios de radar de detecção de mísseis. A maioria é vulnerável ao degelo agora ou em um futuro próximo, dado que 85% do estado está sobre permafrost.
Além das fronteiras americanas, o norte ampliado está em tensão. As relações da Rússia com a Europa Setentrional são gélidas. Sua invasão da Ucrânia deixou esses países temendo também serem invadidos, levando, por exemplo, Suécia e Finlândia a aderirem à OTAN. Os EUA ameaçaram tomar a Groenlândia e o Canadá. E a China — que tem ambições de navegação e recursos para a região — disputa para superar os EUA como a principal superpotência.
O permafrost desempenha um papel nessa situação. “À medida que o conhecimento se expandiu, também se ampliou a compreensão de que o permafrost em degelo pode afetar coisas das quais a NGA se ocupa, incluindo a estabilidade da infraestrutura na Rússia e na China”, dizia o artigo da NGA. O permafrost cobre 60% da Rússia, e os degelos já afetaram mais de 40% dos edifícios no norte do país, segundo declarações do ministro de recursos naturais em 2021. Especialistas dizem que infraestrutura crítica como estradas e oleodutos está em risco, assim como instalações militares. Isso pode enfraquecer tanto a posição estratégica da Rússia quanto a segurança de seus residentes. Na China, por sua vez, segundo um relatório do Council on Strategic Risks, partes móveis importantes como a Ferrovia Qinghai–Tibete, “que permite a Pequim mover mais rapidamente pessoal militar perto de áreas contestadas da fronteira com a Índia”, são suscetíveis ao degelo do solo — assim como oleodutos e gasodutos que ligam a Rússia e a China.
No campo
Qualquer análise de permafrost que dependa de dados do espaço requer verificação na Terra. A expectativa é que os métodos remotos se tornem confiáveis o suficiente para serem usados sozinhos, mas, enquanto estão sendo desenvolvidos, os pesquisadores ainda precisam literalmente sujar as mãos com métodos físicos mais diretos e há mais tempo testados. Alguns usam uma rede chamada Circumpolar Active Layer Monitoring, existente desde 1991, que incorpora dados da camada ativa de centenas de locais de medição em todo o Hemisfério Norte.
Às vezes, esses dados vêm de pessoas sondando fisicamente uma área; outros locais usam tubos permanentemente inseridos no solo, preenchidos com um líquido que indica congelamento; ainda outros usam cabos subterrâneos que medem a temperatura do solo. Alguns pesquisadores, como Schaefer, carregam sistemas de radar de penetração no solo pela tundra. Ele levou seu sistema a cerca de 50 locais e fez mais de 200.000 medições da camada ativa.
O radar de penetração no solo pronto para campo vem em uma caixa grande — do tamanho de um baú de viagem — que emite pulsos de rádio. Esses pulsos ricocheteiam no fundo da camada ativa, ou no topo do permafrost. Nesse caso, o tempo dessa reflexão revela quão espessa é a camada ativa. Com alças projetadas para humanos, a equipe de Schaefer arrasta essa caixa pelas áreas mais pantanosas do Ártico.
A caixa flutua. “Eu não”, diz ele. Ele tem memórias vívidas de avançar por zonas úmidas, suas pernas empurrando direto pela lama, seu corpo afundando até os quadris.
Zwieback também precisa verificar o que infere a partir de seus dados espaciais. E assim, em 2022, ele foi para a estação de campo de Toolik, uma instalação de pesquisa em ecologia financiada pela National Science Foundation ao longo da Dalton Highway e adjacente ao Toolik Lake de Schaefer. Essa estrada, que vai de Fairbanks até o Oceano Ártico, é coloquialmente chamada de Haul Road; ela ficou famosa no programa de TV Ice Road Truckers. A partir desse ponto de acesso, a equipe de Zwieback precisava obter amostras profundas de solo cujo teor de gelo pudesse ser analisado em laboratório.
Todos os dias, duas equipes dirigiam pela Dalton Highway para se aproximar de seus locais de campo. Batendo as portas do carro, descarregavam e subiam em motos de neve para percorrer a distância final. Frequentemente viam bois-almiscarados, parecendo bisões que nunca cortaram o cabelo. Os ursos-pardos também se interessavam por esses bois, e pelos caribus nas proximidades.
Nos locais a que conseguiam chegar, eles tiravam um amostrador, uma peça de equipamento longa e tubular acionada por um motor a gasolina, feita para perfurar profundamente o solo. Zwieback ou um companheiro o pressionava na terra. As duas lâminas do barril giravam, cortando um cilindro a cerca de um metro e meio de profundidade para garantir que suas amostras fossem suficientemente profundas para gerar dados que pudessem ser comparados com as medições feitas do espaço. Depois, puxavam e extraíam o cilindro, uma salsicha de terra e gelo.
O dia inteiro, todos os dias durante uma semana, eles coletaram testemunhos que correspondiam aos pixels em imagens de radar tiradas do espaço. Nesses testemunhos, o gelo era aparente a olho nu. Mas Zwieback não queria “anedatados”. “Queremos obter um número”, diz ele.
Assim, ele e sua equipe embalavam seus cilindros de solo de volta para o laboratório. Lá, eles os fatiavam em segmentos e mediam seu volume, tanto em sua forma congelada quanto em sua forma descongelada, para ver quão bem o teor de gelo medido correspondia às estimativas do algoritmo baseado no espaço.
A validação inicial, que levou meses, demonstrou o valor de usar satélites para o trabalho com permafrost. Os perfis de gelo que o algoritmo de Zwieback inferiu a partir dos dados de satélite corresponderam às medições em laboratório até cerca de 1,1 pé, e mais em um ano quente, com alguma incerteza perto da superfície e mais profundamente no permafrost.
Enquanto custava dezenas de milhares de dólares voar de helicóptero, ir de carro e trocar para uma moto de neve para, no fim, amostrar manualmente uma pequena área — para então continuar o trabalho em casa —, a equipe precisou de apenas algumas centenas de dólares para executar o algoritmo em dados de satélite que eram gratuitos e publicamente disponíveis.
Michaelides, que conhece o trabalho de Zwieback, concorda que estimar o conteúdo de “excesso de gelo” é fundamental para tomar decisões de infraestrutura e que métodos históricos para destrinchar isso têm sido caros em todos os sentidos. O método de Zwieback, de usar pistas de fim de verão para inferir o que está acontecendo naquela profundidade, “é uma ideia muito empolgante”, diz ele, e os resultados “demonstram que há uma promessa considerável para essa abordagem”.
Ele observa, porém, que usar radar baseado no espaço para entender o solo em degelo é complicado: o conteúdo de gelo no solo, a umidade e a vegetação podem diferir até mesmo dentro de um único pixel que um satélite consegue distinguir. “Para ficar claro, essa limitação não é exclusiva do trabalho do Simon”, diz Michaelides; ela afeta todos os métodos de radar espacial. Também há excesso de gelo abaixo do limite onde o algoritmo de Zwieback consegue sondar — algo que os métodos trabalhosos em terra conseguem captar e que ainda não pode ser visto do espaço.
Mapeando o futuro
Depois que Zwieback fez seu trabalho de campo, a NGA decidiu fazer o seu. A tentativa da agência de validar independentemente seu trabalho — em Prudhoe Bay, Utqiagvik e Fairbanks — fez parte de um projeto chamado Frostbyte.
Seus parceiros nesse projeto — o Cold Regions Research and Engineering Laboratory do Exército e o Los Alamos National Laboratory — recusaram pedidos de entrevista. Pelo que Zwieback sabe, eles ainda estão analisando os dados.
Mas a comunidade de inteligência não é o único grupo interessado em pesquisas como as de Zwieback. Ele também trabalha com residentes do Ártico, entrando em contato com comunidades rurais do Alasca onde as pessoas estão tentando decidir se devem se realocar ou onde construir com segurança. “Eles normalmente não podem arcar com carotes caros”, diz ele. “Então a ideia é tornar esses dados disponíveis para eles.”
Schaefer também está tentando reduzir a distância entre sua ciência e as pessoas por ela afetadas. Por meio de uma empresa chamada Weather Stream, ele está ajudando comunidades a identificar riscos à infraestrutura antes que algo desabe, para que possam tomar ações preventivas.
Fazer essas conexões sempre foi uma preocupação central para Erin Trochim, cientista geoespacial na University of Alaska Fairbanks. Como pesquisadora que atua não só em permafrost, mas também em políticas públicas, ela viu a ciência do radar avançar enormemente nos últimos anos — sem progressos equivalentes no terreno.
Por exemplo, ainda é difícil para moradores em sua cidade, Fairbanks — ou em qualquer lugar — saber se há permafrost em suas propriedades, a menos que estejam dispostos a fazer perfurações caras. Ela deparou com esse problema, ainda sem solução, em um terreno de sua propriedade. E, se uma especialista não consegue descobrir, leigos têm pouquíssima chance. “É simplesmente frustrante quando muita dessa informação que conhecemos do lado científico e [que] chegou ao lado da engenharia ainda não se traduziu na construção em campo”, diz ela.
Há um grupo, porém, tentando transformar esse gotejamento em enxurrada: o Permafrost Pathways, uma iniciativa lançada com uma doação de US$ 41 milhões pelo TED Audacious Project. Em conjunto com comunidades afetadas, incluindo Nunapitchuk, o projeto está construindo uma rede de coleta de dados em campo e combinando informações dessa rede com dados de satélite e conhecimento local para ajudar a entender o degelo do permafrost e desenvolver estratégias de adaptação.
“Eu penso nisso muitas vezes como se você recebesse o diagnóstico de uma doença”, diz Sue Natali, líder do projeto. “É terrível, mas também é muito bom, porque quando você sabe qual é o seu problema e com o que está lidando, é só então que você pode realmente fazer um plano para enfrentá-lo.”
E as comunidades com as quais o Permafrost Pathways trabalha estão fazendo planos. Nunapitchuk decidiu se mudar, e a cidade e o grupo de pesquisa levantaram colaborativamente a nova área proposta: um ponto mais alto em areia compactada. Os cientistas do Permafrost Pathways puderam ajudar a validar a estabilidade do novo local — e a provar a formuladores de políticas que essa estabilidade se manteria no futuro.
O radar ajuda nisso em parte, diz Natali, porque, ao contrário de outros sensores de satélite, ele penetra nuvens. “No Alasca, é extremamente nublado”, afirma. “Então outros conjuntos de dados têm sido muito, muito desafiadores. Às vezes conseguimos uma imagem por ano.”
Assim, os dados de radar — e algoritmos como o de Zwieback, que ajudam cientistas e comunidades a dar sentido a esses dados — desenterram percepções mais profundas sobre o que está acontecendo sob os pés dos moradores do norte e sobre como avançar em terreno mais firme.