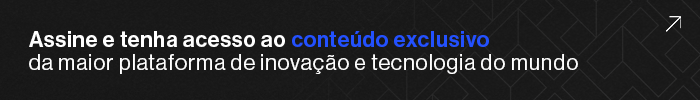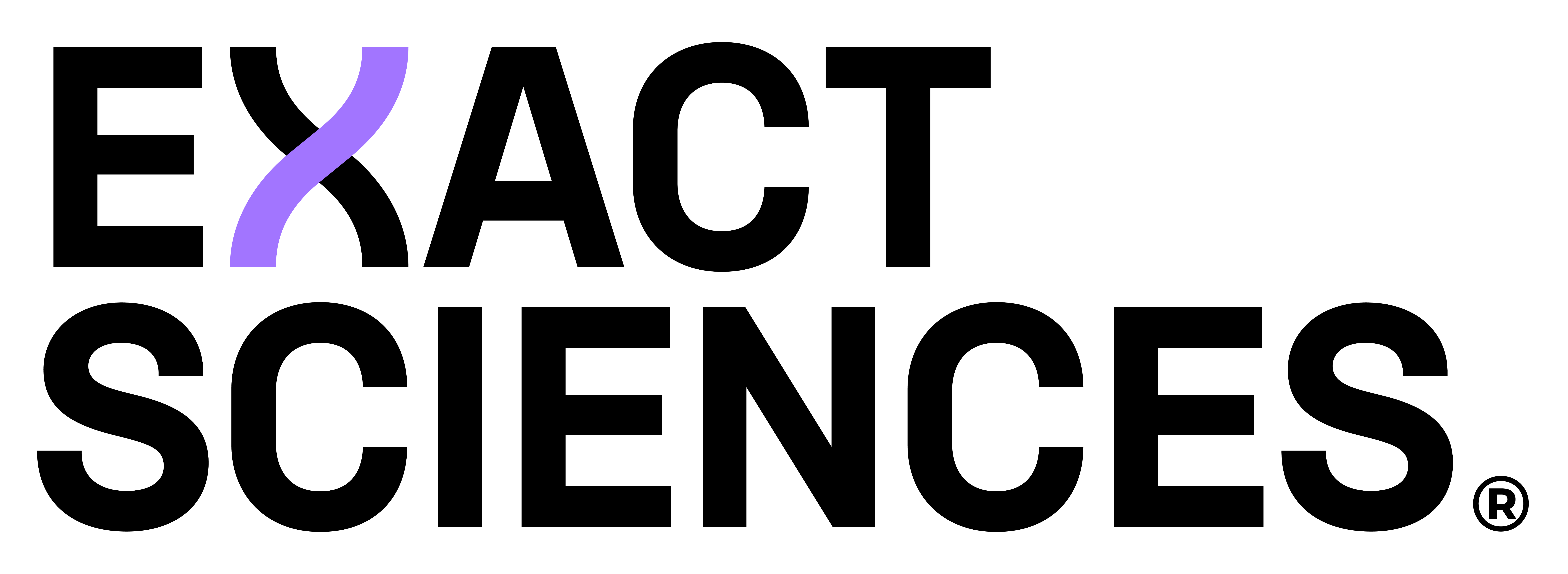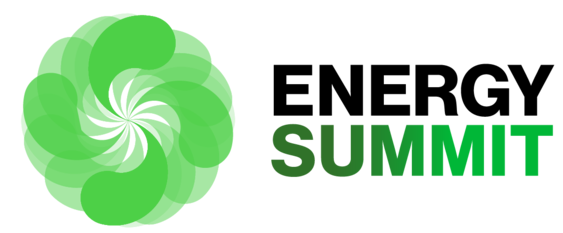Meu coração não deveria estar batendo assim. Rápido demais, com batidas falhadas, pausas e saltos. No visor do meu smartwatch, minha pulsação chegava a 210 batidas por minuto, oscilando enquanto meu peito se apertava. Eu estava tendo um ataque cardíaco?
Era 4 de julho de 2022, e eu estava em um passeio de bicicleta de 12 milhas em Martha’s Vineyard. Acabara de passar pela Inkwell Beach, onde banhistas se bronzeavam sob guarda-sóis coloridos, e enfrentava um vento quente e úmido vindo do mar. Foi quando senti um aperto no peito. Minhas pernas ficaram trêmulas. Minha cabeça começou a girar. Encostei a bicicleta, olhei meu relógio e descobri que estava com fibrilação atrial — um termo técnico para um tipo de arritmia. O coração batia, mas fora do compasso certo. As aurículas, as câmaras superiores do coração, estavam sendo afetadas por uma “atividade elétrica descoordenada”.
Relato esse momento não tanto para descrever o susto que passei, mas para refletir sobre a ideia de arritmia — um ritmo vital repentinamente imprevisível e descontrolado, desencadeado por… o quê? Aquela tarde de julho estava quente, acima de 32 °C, mas quantas vezes eu já havia pedalado em temperaturas ainda mais altas? Recentemente, eu havia me recuperado de um quadro leve de covid — minha segunda infecção. Além disso, aos 64 anos, eu já não era tão jovem, mesmo que nem sempre agisse como tal.
Qualquer que tenha sido a causa imediata, o que realmente me intrigava em 4 de julho de 2022 era a ideia da arritmia como metáfora. Um pulso que antes parecia tão estável agora era menos confiável, e como essa instabilidade poderia refletir algo mais amplo sobre a vida nos anos 2020. Sei que é um grande salto sair de uma anormalidade no coração de uma pessoa para a condição de toda uma era e espécie, mas era para lá que minha mente se dirigia enquanto eu era levado ao pronto-socorro do Hospital Martha’s Vineyard.
Talvez você também sinta isso — que o mundo parece ter perdido mais do que um compasso, enquanto demagogos vociferam e a democracia treme, furacões avançam, geleiras se dissolvem e o céu, manchado de fumaça das queimadas, fica tingido de um alaranjado cada vez mais denso, poluindo o ar e nossos pulmões. Não conseguimos parar de olhar para telas minúsculas onde influenciadores vendem produtos que não precisamos ao lado de notícias sobre guerras sem sentido que destroem, matam e mutilam dezenas de milhares. A pobreza continua intratável para bilhões, assim como a solidão e uma crise crescente de saúde mental, enquanto nos preocupamos se a IA vai nos salvar ou nos transformar em animais de estimação; e assim por diante.
Durante a maior parte da minha vida, mantive-me otimista, confiando que tudo daria certo no fim. Mas, enquanto uma enfermeira me recebia e conectava eletrodos de ECG ao meu peito, senti uma onda de dúvida sobre o futuro. Deitado numa maca, assistia a minha pulsação saltando erraticamente no monitor, ainda rápida demais, enquanto outra enfermeira inseria uma agulha em minha mão para injetar uma solução salina que hidrataria meus vasos sanguíneos. Pouco depois, um jovem médico entrou para me examinar, e ouvi a palavra ser pronunciada pela primeira vez.
“Você está tendo uma arritmia”, disse ele.
Mesmo com meu coração batendo desordenado, não pude resistir. Intrigado com a palavra, que já havia ouvido, mas nunca com essa clareza, peguei o celular que sempre carrego comigo e busquei o significado.
Arritmia
Substantivo: “uma condição em que o coração bate com um ritmo irregular ou anormal.” Do grego a-, “sem”, e rhuthmos, “ritmo”.
Deitei-me e fechei os olhos, deixando essa origem grega ecoar na minha mente enquanto repetia várias vezes — rhuthmos, rhuthmos, rhuthmos.
Ritmo, ritmo, ritmo…
Tentei seguir o compasso do meu coração com o dedo, mas, claro, não consegui, pois meu coração não estava batendo de forma estável e previsível como faria antes daquele 4 de julho de 2022. Afinal, meu coração foi criado para bater em um ritmo, um rhuthmos — e não em um arhuthmos.
Mais tarde, descobri que o termo grego rhuthmos, ῥυθμός, como a palavra ritmo em português, refere-se não apenas aos batimentos cardíacos, mas a qualquer movimento regular, simetria ou fluxo. Para os gregos antigos, o termo estava intimamente ligado à música e à dança, à física da vibração e da polaridade, a um estado de equilíbrio e harmonia. A ideia de rhuthmos foi incorporada à escultura clássica grega usando uma fórmula estrita de proporções, chamada Kanon, como no caso do Doryphoros (O Portador da Lança), esculpido no século V por Policleto. Hoje, a estátua, exposta no Museu da Acrópole em Atenas, parece mover-se com uma fluidez natural, um rhuthmos que emana do mármore.
Os gregos também pensavam no rhuthmos como harmonia e equilíbrio das emoções, com dramaturgos gregos criando tragédias em que o rhuthmos da vida, da natureza e dos deuses saía de controle. “Neste ritmo, eu estou preso”, lamenta Prometeu em Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, onde rhuthmos se torna um castigo implacável imposto por Zeus quando Prometeu oferece o fogo aos humanos, uma dádiva até então exclusiva dos deuses. Diariamente, Prometeu, acorrentado a uma rocha, tem seu fígado devorado por uma águia, apenas para vê-lo regenerado durante a noite, em um ciclo interminável de sofrimento e penitência.
Na cardiologia moderna, o termo rhuthmos passou a se referir aos batimentos do músculo cardíaco que mistura oxigênio e sangue e o bombeia através de cerca de 100 mil quilômetros de veias, artérias e capilares até as pontas dos dedos, córtex frontal, rins, olhos, enfim, a cada parte do corpo. Em 2006, surgiu a Rhythmos, uma revista médica trimestral focada em eletrofisiologia cardíaca, uma subespecialidade da cardiologia que estuda os sinais elétricos que mantêm o coração batendo regularmente — ou, no meu caso, não.
A pergunta permanecia: por quê?
Até onde eu sabia, Zeus não estava me punindo, embora eu não pudesse descartar completamente a possibilidade de que tivesse irritado algum deus e estivesse pagando por isso. Talvez a covid fosse a culpada — aquele minúsculo aglomerado de RNA com o poder de um deus para desestabilizar os mortais. Conforme a ciência aprende mais sobre esse vírus, evidências indicam que ele pode interferir no sistema nervoso e nos tecidos que normalmente mantêm o coração em rhuthmos.
A fibrilação atrial também pode ser desencadeada pelo consumo moderado de álcool, pelo envelhecimento e, por vezes, por um gene chamado KCNQ1. Segundo o MedlinePlus, parte da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA, “mutações neste gene parecem aumentar o fluxo de íons potássio através do canal formado pela proteína KCNQ1”, o que pode “interromper o ritmo normal do coração, resultando em fibrilação atrial.” Será que uma mutação estava contribuindo para minha arritmia?
A angústia e o medo também podem influenciar a fibrilação atrial. Durante a pandemia, eu tive uma boa dose de ambos, assim como a maior parte da humanidade. Para não esquecer — e estávamos tentando muito, muito esquecer — a ansiedade causada pela covid ainda se manifestava no verão de 2022, mesmo após a chegada das vacinas e a reabertura da maior parte do mundo.
Naquela época, o impacto sobre cérebros frágeis, forçados a permanecer em isolamento por meses, ainda era recente. Noticiários e redes sociais amplificavam o terror de ver tantas mortes ou pessoas enfrentando sequelas permanentes. A política parecia igualmente descontrolada, com demagogos — outra palavra de origem grega — agindo sem restrições. Tiroteios, invasões, ódio e fúria pareciam estar em todo lugar. Esse foi um dos motivos pelos quais parei de acompanhar as notícias por dias — algo que eu nunca havia feito, como jornalista e viciado em informação. Sentia que meu coração frágil não suportaria tanta tragédia visceral, tanto arhuthmos.
Todos temos nossas histórias pessoais desses dias sombrios. Para mim, a covid chegou cedo, em 2020, levando a uma primavera e verão com uma névoa mental persistente, dificuldade para respirar e, eventualmente, uma depressão como nunca tinha experimentado. Ao mesmo tempo, amigos acabaram na UTI, e conheci pessoas cujos pais e familiares faleceram. Minha mãe estava morrendo de demência, e meu pai entrava e saía da UTI repetidas vezes com miastenia gravis, uma doença autoimune potencialmente fatal. Essa dissolução familiar já havia começado antes da covid, mas a pandemia fez com que o colapso da minha família parecesse ainda pior e, sem dúvida, contribuiu para a falha do ritmo do meu coração.
Da mesma forma, o arhuthmos generalizado que alguns de nós sentimos agora começou muito antes de o novo coronavírus ter paralisado a vida cotidiana em março de 2020. As estatísticas mostram que ansiedade, estresse, depressão e problemas de saúde mental vêm aumentando há anos. Isso sugere que algo maior já está em andamento há algum tempo, uma angústia coletiva que parece apontar para o lado mais sombrio da vida moderna.
Não me interpretem mal. A vida moderna nos proporcionou benefícios espetaculares — Manhattan, aviões Boeing 787 Dreamliner, filmes IMAX, cappuccinos e interruptores e botões em nossas paredes que iluminam ou aquecem uma sala instantaneamente. Diferente de nossos ancestrais, a maioria de nós não precisa se preocupar com a próxima refeição, onde encontraremos um abrigo seguro, ou com a possibilidade de sermos atacados por um tigre dente-de-sabre. Também não precisamos passar por um ataque de fibrilação atrial sem ajuda de um médico jovem e bem treinado, um pronto-socorro e uma injeção intravenosa para nos hidratar.
Mas houve concessões. Novas ansiedades e ameaças surgiram, fazendo-nos sentir inseguros e fora de ritmo. Elas começam com o acesso desigual a coisas como atendimento de emergência, médicos jovens e dedicados, abrigo e comida — o que aumenta a ansiedade não só dos que carecem desses recursos, mas também daqueles que consideram inaceitável essa situação. Mesmo estar à beira de tais necessidades pode fazer o coração acelerar.
Considere, também, as características básicas da vida moderna, que tendem a linhas retas — verticais e horizontais. Isso vem do nosso instinto de organizar e da estabilidade e funcionalidade que essas linhas proporcionam na arquitetura. Contudo, tanta rigidez nem sempre agrada aos cérebros que evoluíram para ver padrões e formas no mundo natural, que não é horizontal e vertical. Nossos ancestrais observavam árvores, savanas e montanhas sem linhas retas. Linhas tortas, uma árvore inclinada, o contorno suave de um campo gramado, um horizonte ondulante — tudo isso soa certo aos nossos cérebros primordiais. Sentimo-nos confortados pela curva do peito de um tordo, pelas nuvens altas e volumosas, pela terra macia sob nossos pés.
Não quero exagerar ao romantizar a natureza, que pode ser violenta e implacável. Tempestades devastadoras e predadores de dentes afiados foram um dos motivos pelos quais nossos antepassados viviam em árvores, cavernas e cabanas fortes rodeadas por muros. A humanidade também evoluiu com algo crucial para nossa sobrevivência — o otimismo de que sobreviveria e prosperaria. Isso tem sido uma ferramenta poderosa — uma das razões pelas quais continuamos avançando, “esquecendo” horrores de pandemias e pragas, construindo melhores abrigos e aprendendo a preparar cappuccinos instantaneamente.
Como um dos grandes otimistas de nosso tempo, Kevin Kelly, disse: “A longo prazo, o futuro é decidido pelos otimistas.”
Mas está realmente tudo bem neste futuro que nossos ancestrais construíram para nós? Será que o otimismo, tão essencial para a sobrevivência e ascensão da civilização, é também uma das razões para a ansiedade que sentimos em um futuro que, em certos aspectos cruciais, se revelou menos ideal do que nossos predecessores esperavam?
No mínimo, a vida moderna parece negligenciar elementos tão fundamentais para nossa sensação de segurança quanto paredes sólidas, exércitos em prontidão e exames de ECG normais — e realmente mais cruciais para nossa felicidade e prosperidade do que ter dois carros ou exibir a última moda nas praias de Miami. Esses elementos fundamentais incluem amor e companhia, que as estatísticas indicam estar em falta. Hoje, milhões realizam o antigo sonho otimista de viver como pequenos faraós e reis em subúrbios e mansões, mas inadvertidamente muitos se encontram separados da companhia e da comunidade, desejos humanos básicos.
A ciência e a tecnologia modernas podem ser fascinantes e úteis. Mas também têm sido usadas para criar coisas que nos prejudicam amplamente, beneficiando apenas alguns. Permitimos que os gigantes das redes sociais explorem nosso desejo genético por interação, nosso anseio por alguém para amar e ser amado, de modo que ficamos presos aos dispositivos, mesmo em um pronto-socorro, achando que estamos tendo um ataque cardíaco. Alimentos processados são projetados para explorar nosso desejo por doces e gordura animal, que a evolução nos conferiu para escolhermos alimentos nutritivos e seguros (hmm, isso é bom) e evitarmos o perigo (eca, leite azedo). Agora, porém, essa abundância fácil sobrecarrega nosso corpo e nos adoece.
Inventamos o dinheiro para facilitar a compra e venda, melhorando nossa vida. No processo, criamos uma nova categoria de ansiedade — a do dinheiro. Preocupamo-nos em ter muito pouco ou, às vezes, demais; tememos que alguém o roube ou nos engane para gastá-lo com o desnecessário. Alguns de nós sentem culpa por não gastar o suficiente para alimentar os famintos ou ajudar a salvar o clima. O dinheiro também distorce as eleições, que exigem somas enormes. Talvez você até tenha recebido uma mensagem de texto pedindo apoio para um candidato que nem gosta.
A ironia é que sabemos como resolver ao menos parte do que nos aflige. Por exemplo, sabemos que não deveríamos dirigir SUVs que consomem muito combustível e que deveríamos parar de olhar para cozinhas perfeitamente decoradas, influenciadores irreais e vídeos de 20 segundos no TikTok. Sentimo-nos impotentes, mesmo com tantas inovações surgindo. Isso pode explicar uma das grandes contradições desta era de arritmia, demonstrada em uma pesquisa global da UNESCO sobre mudanças climáticas realizada em 2023 com 3.000 jovens, de 80 países, com idades entre 16 e 24 anos. Sem surpresa, 57% se declararam “eco-ansiosos”. Mas um surpreendente 67% eram “eco-otimistas”, o que significa que muitos se sentiam ao mesmo tempo ansiosos e esperançosos.
Eu também.
Toda essa ansiedade e otimismo têm sido pesados para nossos corações — literal e metaforicamente. Preocupação excessiva pode levar esse órgão frágil a falhar, a perder o ritmo. O mesmo pode acontecer com o excesso da vida moderna. A doença cardiovascular continua sendo a principal causa de morte de adultos, nos EUA e em boa parte do mundo, com alguém morrendo disso a cada 33 segundos, segundo o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA). A incidência de fibrilação atrial triplicou nos últimos 50 anos (talvez porque estamos diagnosticando mais), afetando quase 50 milhões de pessoas no mundo em 2016.
Após o primeiro episódio em Martha’s Vineyard, as crises de fibrilação atrial continuaram. Monitorava-as no meu relógio, observando os pulos e pausas no meu pulso, os momentos em que o coração disparava acima de 200 batidas por minuto, apertando o peito e deixando a garganta seca. Às vezes, sentia um gosto de sangue. Continuei pedalando no verão e outono de 2022, atento aos batimentos cardíacos para ver se conseguia evitar que saíssem de controle repentinamente.
Quando uma crise ocorria, lutava para respirar, encostava a bicicleta e esperava que passasse. Às vezes, a mente ficava confusa, e eu me tornava menos tolerante às pequenas frustrações diárias, que antes não me incomodavam.
No início de 2023, fiz um check-up do coração com um cardiologista. Ele realizou um ecocardiograma e me colocou para correr em uma esteira conectada a monitores. “Não há nenhum dano no seu coração”, declarou ao analisar os resultados, mostrando-me um vídeo em preto e branco do músculo cardíaco contraindo e bombeando sangue. Senti-me aliviado, embora ele tenha acrescentado que a fibrilação atrial provavelmente persistiria, então prescreveu um anticoagulante chamado Eliquis como precaução para prevenir um derrame. Aparentemente, durante as pausas irregulares nos batimentos, o sangue pode coagular e formar pequenos fragmentos que se assemelham a crostas, os quais podem chegar ao cérebro e obstruir capilares e vasos sanguíneos essenciais. “Você não quer que isso aconteça”, alertou o cardiologista.
Perto do fim do exame, o médico mencionou uma possível solução para minha arritmia. Fiquei cético, mas o que ele propôs acabou se revelando um dos grandes benefícios de estar vivo hoje em dia — uma solução que não estava disponível para meus antepassados ou mesmo para meus avós. “Chama-se ablação cardíaca”, explicou ele. O procedimento, uma operação simples, redireciona os sinais elétricos erráticos no músculo cardíaco para restaurar um padrão de batimento normal. Os médicos inserem um tubo no coração, localizam o tecido anômalo que está desregulando o ritmo e o cauterizam com calor extremo, frio ou (a opção mais recente) pulsos elétricos. Estima-se que são realizadas cerca de 240 mil ablações cardíacas por ano nos Estados Unidos.
“Vocês conseguem realmente fazer isso?” perguntei.
“Conseguimos”, respondeu o médico. “Nem sempre funciona de primeira. Às vezes, é necessário um segundo ou terceiro procedimento, mas a taxa de sucesso é alta.”
Algumas semanas depois, cheguei ao Hospital Beth Israel, em Boston, às 11h de uma terça-feira. Meu primeiro cardiologista estava indisponível para realizar o procedimento, então, após a preparação no pré-operatório, fui recebido por André d’Avila, especialista em eletrocardiologia, que explicou novamente como o procedimento funcionaria. Ele informou que ele e um colega de eletrofisiologia inseririam cateteres longos e flexíveis pelas veias femorais na minha virilha, equipados com fios que levam uma pequena câmera de ultrassom e um cauterizador, que seria usado para queimar seletiva e cuidadosamente as superfícies dos músculos das minhas aurículas. A ideia era criar padrões de tecido cicatricial para bloquear e redirecionar os sinais elétricos irregulares, restaurando um ritmo estável, um rhuthmos, ao meu coração. O procedimento todo levaria entre duas e três horas, e eu provavelmente iria para casa naquela mesma tarde.
Pouco depois, um assistente veio e me levou pelos corredores movimentados até uma sala de cirurgia, onde o Dr. d’Avila me apresentou aos técnicos e enfermeiros de sua equipe. Monitores apitavam e máquinas zumbiam, até que um anestesista colocou uma máscara sobre minha boca e nariz, e então perdi a consciência.
A ablação foi um sucesso. Desde que acordei, meu coração mantém um ritmo constante, restaurando meu rhuthmos interno, mesmo que o procedimento infelizmente não tenha consertado as muitas inquietações externas — os demagogos, as pegadas de carbono, entre outras. Ainda assim, a cauterização milagrosa dos músculos das minhas aurículas deixou-me com uma percepção: se a engenhosidade humana consegue corrigir meu coração e restaurar seu ritmo, será que também não podemos encontrar uma forma de consertar outras fontes de arhuthmos em nossas vidas?
Já temos soluções para algumas das coisas que nos afligem. Sabemos como substituir combustíveis fósseis por energias renováveis, tornar as cidades menos duras e criar dispositivos e aplicativos inteligentes que acalmem nossas mentes, ao invés de agitá-las.
Para meu pequeno conserto pessoal, agradeço ao Dr. d’Avila e sua equipe, e aos inventores do procedimento de ablação. Também agradeço a Prometeu, cuja ousadia ao trazer o fogo aos mortais literalmente me salvou, fornecendo o catalisador quente para reparar meu coração enfermo. Talvez isso possa nos dar esperança de que a espécie humana conseguirá restaurar os grandes ritmos da vida, trazendo-os para um compasso melhor, senão perfeito. Chamem-me de otimista, mas também ansioso, quanto às nossas perspectivas — ainda que agora eu possa colocar o dedo no pulso e sentir, mais uma vez, o rhuthmos constante do meu coração.